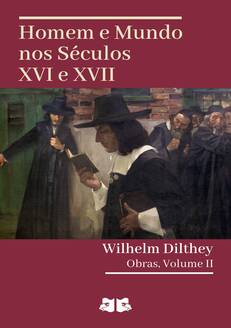Você irá ler, a seguir, um trecho da obra “Homem e Mundo nos Séculos XVI e XVII” de Wilhelm Dilthey. Caso deseje saber mais sobre a obra, clique aqui, ou na imagem da capa que aparece abaixo.
Giordano Bruno
Giordano Bruno é o primeiro elo dessa cadeia de pensadores panteístas que chega até nossos dias através de Spinoza e Shaftesbury, de Robinet, Diderot, Deschamps e Buffon; de Hemsterhuys, Herder, Goethe e Schelling. Por isso, sua posição nesse desenvolvimento e sua relação histórica com o monismo panteísta de Spinoza e com a monadologia de Leibniz constituem um problema histórico de grande relevância. Mas, no sentido do nosso trabalho, que busca marcar o nascimento da filosofia moderna, sua figura adquire uma significação ainda maior. Baseando-se na descoberta de Copérnico, expõe pela primeira vez, de um ponto de vista elevado, a contradição da consciência científica com os dogmas de todas as confissões cristãs e oferece às ideias e aos ideais de vida modernos a primeira expressão filosófica universal em um sistema baseado na autonomia do pensamento. Seus conceitos explicativos sobre a natureza ainda pertencem ao passado, mas o sopro que os anima já é moderno: anuncia-se como em uma alvorada, na qual as sombras da noite ainda se misturam com as luzes do sol nascente.
Vamos, de antemão, dividir o problema histórico que Giordano Bruno apresenta. Ele é o primeiro filósofo monista das nações modernas; para ele, a animação divina não é senão o outro aspecto inseparável da matéria: ambos constituem juntos um único mundo infinito, cuja conexão é Deus. O núcleo desse monismo reside em uma nova visão astronômica e em sua valorização metafísica no sentido de uma magnificação estética do mundo, em harmonia com a consciência do Renascimento italiano. A meta prática é a doutrina da paixão heroica, com a qual o espírito renascentista se eleva à condição de fórmula moral, em oposição ao cristianismo. Nas ideias fundamentais de Bruno, respira o espírito do Renascimento. Ao mesmo tempo, sob o aspecto formal, ele é o primeiro que, dentro dos povos modernos da Europa, redescobre a forma artística da filosofia, depois do prolongado domínio da arquitetônica escolástica e do subsequente entorpecimento místico e humanista do estilo filosófico. Deve haver um ponto de unidade que torne completamente inteligíveis tanto o conteúdo quanto a forma do filósofo-poeta. Sua figura coloca o mesmo problema que Platão. Mas um rico material nos permite resolver essa questão no caso de Bruno, enquanto no de Platão parece que jamais conseguiremos romper com certa névoa de generalidades.
Giordano Bruno é o filósofo do Renascimento italiano. Seu senso artístico da vida e seus ideais vitais se elevam com ele a uma visão cósmica e a uma fórmula moral. Esse espírito do Renascimento atinge alturas decisivas e a criação filosófica porque, em Bruno, ele se alia à consciência científica do alcance material e metódico da descoberta de Copérnico. Assim, toda a metafísica europeia, em sua maior parte já reduzida a uma massa inerte, ganha vida em uma doutrina de um universo uno, infinito e divino. A capacidade estética do Renascimento, apesar de sua decadência no artificial e no sobrecarregado, nos oferece, em Bruno, o primeiro artista-filósofo do mundo moderno.
I.
Giordano Bruno nasceu no ano de 1548, em Nola, uma cidade provinciana, provavelmente de origem grega, situada na vertente noroeste do Vesúvio, repleta do encanto da exuberância tropical. Tasso disse certa vez: “A terra produz em toda parte os habitantes que lhe são semelhantes” (La terra simili a sè gli abitator’ produce). Bruno é filho desse pedaço de terra entre o Vesúvio e o Mediterrâneo. Fogoso como o Vesúvio e a brisa do mar, verdadeira força da natureza em sintonia com a vegetação luxuriante, rico em contrastes caprichosos como a própria terra que o viu nascer. No poema latino De immenso (III, I), ele nos relata como, quando menino, o Vesúvio lhe aparecia, em contraste com os arredores de Nola, cobertos de castanheiros, loureiros e murtas, como uma massa seca e estéril; mas, ao se aproximar, deparou-se com a plenitude do trópico: então percebeu que a natureza é bela em toda parte.
O primeiro esplendor do Renascimento italiano coincide com os anos de sua infância e primeira juventude. Miguel Ângelo e Ticiano ainda viviam. Mas a Companhia de Jesus, sob a direção de seu segundo geral, Lainez, já tinha plena consciência de sua missão histórica, e o Concílio de Trento reunia todas as forças internas do catolicismo. Na plenitude serena da vida, Bruno poderia ter-se tornado um grande poeta, como seu contemporâneo mais velho, Tasso, ou o mais jovem, Ariosto, pois era dotado de uma imaginação poderosa. Mas, assim como em Leonardo e Galileu, essa imaginação vinha acompanhada de uma extraordinária capacidade de combinação científica e de uma inteligência fina e penetrante. O destino de sua vida foi selado quando, após a instrução escolástico-humanista comum à época, ingressou, aos quatorze ou quinze anos de idade (1562 ou 1563), na Ordem dos Dominicanos. Residiu no convento de São Domingos, em Nápoles, onde outrora vivera e ensinara Tomás de Aquino; recebeu as ordens sacerdotais em 1572, percorreu diversas localidades vizinhas cumprindo seus deveres eclesiásticos e permaneceu na Ordem até 1576, ou seja, por longos quinze anos, até completar vinte e oito. Durante esse período, pôde preparar sua extraordinária cultura filosófica e seus sólidos conhecimentos astronômicos, que lhe permitiram, uma vez fora do claustro, ensinar filosofia e astronomia. Foi também nessa época que ensaiou seus primeiros passos na poesia trágica e cômica. Talvez ainda no convento, escreveu o primeiro esboço da comédia O Calendário, cujo acerbo cinismo tem o sabor do claustro, e uma alegoria perdida, L’arca de Noè, que trata, em tom burlesco, da disputa pelo prestígio entre os animais e da dignidade do asno, dentro da tradição do tema. As grandes disputas eclesiásticas também devem ter impactado o jovem genial, pois, ainda noviço, retirou de sua cela as imagens sagradas, conservando apenas o crucifixo.
Recomendou a um companheiro que lesse as vidas dos Santos Padres em vez dos Sete Gozos de Maria. Aos dezoito anos, já duvidava da Trindade, da divindade de Cristo e da transubstanciação. A nova restauração católica levava essas heresias mais a sério do que nos tempos áureos de Leão X. Assim, Giordano Bruno abandonou o claustro: tinha vinte e oito anos, e sua época de aprendizado terminara. É inútil buscar no monótono e cauteloso relato que fez de sua vida ao tribunal da Inquisição de Veneza qualquer vestígio dos sentimentos que poderiam ter inspirado a alma desse jovem genial, a quem chegavam, através dos muros do convento, o alvoroço da cidade mais ruidosa do mundo e todo o encanto do golfo de Nápoles. Com certeza, começou como um devoto de Aristóteles. Os dominicanos juravam por Aristóteles e por seu continuador, São Tomás, que havia sido o filósofo do convento. O profundo conhecimento de Aristóteles que Bruno manifesta mais tarde, a presença constante desse pensador em seu espírito, qualquer que seja a questão em debate, indicam com grande probabilidade que Aristóteles exerceu um domínio duradouro sobre seu pensamento. Em relação a muitas opiniões astronômicas de Aristóteles, ele nos diz em diversas ocasiões que, na juventude, foi seu partidário. Mas o fato é que, por mais longa que tenha sido a influência da escola tradicional, ele acabou por rompê-la. Relata que, por muito tempo, foi um defensor do naturalismo. Essa fase também deve ser situada em seus anos de aprendizado. Ele menciona a teoria segundo a qual as formas são estados contingentes da matéria, enquanto esta constitui a substância das coisas, a natureza divina. Cita Demócrito e os epicuristas como seus representantes, depois os estoicos e Avicebrão. “Por muito tempo fui muito afeiçoado a essa teoria, porque seus fundamentos correspondem mais à realidade do que os de Aristóteles.”[1] Se perguntarmos quais obras podem ter influenciado essa mudança, é preciso pensar em Lucrécio e em certas imitações suas, muito lidas, como o poema de Capicius De natura rerum, e também em seu conterrâneo Telésio. Após a publicação de sua obra De natura rerum, em 1565, Telésio atendeu aos desejos de seus admiradores e passou a viver em Nápoles, onde ministrava conferências muito apreciadas e admiradas. Sob seus auspícios, nasceu a Academia que buscava derrubar Aristóteles e fundar o conhecimento da natureza. Bruno ainda reconhece o valor dessa filosofia e, especialmente, de Telésio, em 1584, ao expor suas ideias maduras[2]. Mas seu profundo espírito artístico necessitava de um complemento ideal a esse ponto de vista. No relatório citado, ele prossegue: “No entanto, após considerar com maior maturidade e levar em conta mais fatos, achei necessário admitir na natureza dois tipos de substâncias: a forma e a matéria.”[3] Com essas palavras, ele quer designar o complemento platonizante do naturalismo, que desenvolve com maior detalhe em sua obra sobre a causa e o uno; apontam, portanto, a transição para seu ponto de vista definitivo. Por diversas razões, parece-nos mais natural supor que já tenha encontrado esse ponto de vista definitivo, pelo menos em semente, antes de abandonar o claustro, ainda que isso não possa ser comprovado.
Também não se pode afirmar em que momento desse desenvolvimento conheceu o sistema copernicano. Mas é certo que essa mudança em suas opiniões sobre a natureza deve ter ocorrido cedo, ainda em seus anos de aprendizado. Foi partidário da astronomia de Aristóteles, mas, na juventude, tomou conhecimento da verdade do sistema copernicano. “Nobre Copérnico, cujas obras monumentais comoveram meu espírito em tenra idade.”[4] E também é certo que Copérnico produziu nele uma revolução espiritual, da qual emergiu a ideia fundamental de seu sistema, que foi se desenvolvendo pouco a pouco em todas as suas consequências. No seguinte soneto, ele expressa o estado de espírito com que, ao abandonar o claustro e a estreiteza da imagem eclesiástico-ptolomaica do mundo, ingressa na vida, levando na alma uma nova visão do universo:
Escapado da escura e estreita prisão,
longo tempo prisioneiro do erro,
abandono as correntes que me atavam
para conquistar a doce liberdade.
Respiro a vida nova, plena.
Aquele que matou Píton, valoroso,
e com seu sangue tingiu de púrpura o mar,
também me abriu os caminhos.
A ti consagro meu coração, ó ser sublime!
Tu restabeleces a alma enferma.
A ti escuto, ó voz augusta,
que a tempo me adverte do abismo.
Graças a ti, luz divina,
ó tu, meu sol!
que me conduziste à morada da felicidade.
II.
Que contraste entre as duas vidas! Quando Lutero abandonou o convento e pendurou os hábitos, enraizou-se em sua própria terra e operou com o novo espírito entre seu próprio povo. Giordano Bruno, durante os dezesseis anos compreendidos entre 1576, ano de sua fuga, e 23 de maio de 1592, quando caiu prisioneiro nas mãos da Inquisição de Veneza, viveu exilado na Suíça, França, Inglaterra e Alemanha, sem criar raízes em lugar algum, nem mesmo onde a sorte parecia sorrir-lhe, sem jamais esquecer sua pátria, “essa mestra e semi-imperatriz de todas as raças de homens, senhora, nutriz e mãe de todas as virtudes, ciências, humanidades e costumes refinados”.[5] Até que a saudade de sua terra o lançou nas redes da morte. Todo o seu ser foi moldado para a Itália do Renascimento, cuja luz radiante se havia apagado diante da restauração católica. Sentia-se como um estrangeiro em todas as terras bárbaras do norte. A guerra, o ódio religioso e o refinamento escolástico das universidades o cercavam por todos os lados como uma névoa nórdica. É certo que o latim continuava sendo, nas universidades, o elo de união entre pessoas de todas as nações, permitindo-lhes uma amplitude europeia na vida. As liberdades do regime universitário da época possibilitavam aos professores uma vida de peregrinação pela Europa. Isso não era algo raro. Paracelso defende essa peregrinação, dizendo que “ninguém se torna mestre em sua própria casa, pois ainda há um preceptor junto ao lar”, “os que ficam ao calor do lar comem perdizes, os que estudam as artes comem sopas de leite”. E, nessa época em que o Renascimento italiano se espalhava por toda parte, nenhum estrangeiro gozava de tanta simpatia, até mesmo na própria Inglaterra, quanto um italiano culto e impregnado do espírito renascentista.
Giordano Bruno teve um acesso particular às universidades como representante da arte luliana. Seus versos, sua imensa memória, seu saber e seu engenho cintilante, todo o seu ser, impregnado do senso de beleza do Renascimento, abriram-lhe as portas da sociedade cortesã mais distinta. Mas sua natureza vulcânica, seus contrastes tempestuosos, suas explosões de soberba, de ódio fradesco e cínico contra os literatos contraditores, e sua teatralidade burlesca napolitana provocaram conflitos e catástrofes por toda parte. A real superioridade de seu ponto de vista filosófico em relação aos homens de sua época o mantinha em solidão no meio do alvoroço das disputas filosóficas, que ainda estavam na moda, no turbilhão de Paris, Oxford, Wittenberg e Helmstaedt.
“Ignomínias, calúnias, maldade alheia e temor próprio, bem justificado, te lançarão para fora de tua pátria, te afastarão de teus amigos e te exilarão em terras pouco hospitaleiras.” Assim ele fala consigo mesmo, e seu único consolo é a resignação. “Faze, ó ânimo meu, que isso se transforme em[6] um exílio glorioso para mim e que esta pátria melhor me traga tranquilidade.”
O que o afastou da pátria, a princípio, foi menos o perigo do momento do que a mesquinhez e a monotonia da vida de um monge fora de claustros que se sustentava com aulas particulares e como revisor. Assim viveu em Gênova, Turim, Veneza e Pádua.
Ao cruzar a fronteira francesa, vestia um hábito dominicano de fino tecido branco, que havia mandado fazer em Bérgamo, trazendo consigo o escapulário que levara ao fugir de Roma. Contava com os conventos de sua ordem.
Seu destino imediato era Lyon. Mas o frio acolhimento dispensado ao falso monge durante a viagem o levou a tomar outra decisão. A cidade do grande Calvino era o refúgio de todos os católicos expatriados do mundo romano. Ao empreender sua viagem nessa direção, rompe, por assim dizer, de uma vez por todas com o mundo anterior.
Ali encontrou uma colônia italiana. Seu chefe, o napolitano marquês de Vico, tornou-se grande amigo seu. Deixando de lado a cogula, equiparam-no com chapéu e adaga. Tudo isso sob a suposição de que ele se converteria à fé protestante. Também ali experimentou o terrível destino da hipocrisia e da duplicidade que pesava sobre o pensador monista nesse mundo de dissensões religiosas – um destino que tanto o havia feito sofrer no convento e que ameaçava o elemento de grandeza moral que fazia parte de sua natureza complexa.
Afirmou diante da Inquisição não ter aderido ao calvinismo. Isso pode ser verdade em algum sentido equívoco.
Em todo caso, encontramos seu nome nas listas da congregação evangélica italiana. Somente como membro desta pôde Bruno tornar-se integrante da Academia de Genebra. Além disso, temos referência explícita de que, devido a seus erros doutrinários e às suas zombarias contra os pastores, foi excluído da comunhão, e que essa exclusão lhe foi concedida a seu próprio pedido.
Toda essa nova duplicidade também foi inútil. Apenas do início do ano até o outono de 1578 conseguiu suportar a atmosfera calvinista. Pobreza, disputas eclesiásticas, censuras, hipocrisia, uma atmosfera moral um tanto carcerária: miséria e nada além de miséria.
Mas o que para o homem Giordano Bruno de Nola se apresentava nesses termos, para o gênio filosófico que superaria tudo o que a Europa de então oferecia em termos de ideias sobre a vida, mostrava-se de modo completamente diferente.
Essa Europa, tal como era então, foi seu mestre. Recebeu ensinamentos nas capitais da cultura religiosa e moral da Europa, em suas principais seitas e em suas nações mais ilustres. Genebra era precisamente uma capital desse nível, e o calvinismo, uma dessas seitas. A ideia da incapacidade das facções cristãs para moldar nobremente a vida e a sociedade despertou em Bruno por meio de experiências extremamente intensas. Essa ideia já estava contida no espírito do Renascimento, mas é nesses anos de peregrinação – na época da restauração católica e da fé dogmática protestante, no claustro de Nápoles, nas salas universitárias de Paris, na sociedade cortesã de Londres, na Genebra de Calvino e na Wittenberg luterana – que ela se aprofunda e se fortalece. O puro ideal filosófico da vida nutriu-se do conteúdo vivo do mundo europeu.
Sentia uma forte simpatia pelo elemento heroico do protestantismo, que fazia guerra contra “o cão infernal de três cabeças adornado com a tríplice tiara”. Diante do “quimérico culto católico”, respeitava as formas mais puras do culto protestante. Mas lhe repugnava o abuso do aparato filológico nas sinopses, chaves bíblicas e comentários dessa ortodoxia bíblica. Combateu apaixonadamente a doutrina da servidão da vontade, da predestinação e da ineficácia das obras, prevendo que essa nova dogmática resultaria em um enorme aumento da coerção eclesiástica e das disputas dogmáticas. À medida que o calvinismo acolhia literalmente cada sílaba do Antigo Testamento na Bíblia harmonizada, maior era o afastamento dessa fé literal em relação à astronomia copernicana e a todo progresso do conhecimento natural que superasse a concepção estreita do Antigo Testamento. O filósofo italiano odiava com igual intensidade o Antigo Testamento, o povo que o havia produzido e os calvinistas que a ele se apegavam. Confronta-se radicalmente com o calvinismo em sua obra sobre a besta triunfante. À sombra das antigas máscaras divinas, submete toda a história evangélica a uma crítica burlesca, como se fosse um “certo mistério trágico da Síria”. Toda a dogmática do cristianismo é considerada antropocêntrica e, especialmente, judaica, sendo compreendida como uma oposição aparente entre o além e o terreno que, ao sensibilizar também o além, subordina-se ao ponto de vista da aparência sensível e da imaginação.
Diante disso, impõe-se a consciência filosófica, que dissipa essa aparência. Na mesma obra, descreve com extraordinária acrimônia os defeitos específicos das confissões protestantes. Elas matam o sentimento heroico da vida, que impulsiona o homem a viver pelo bem comum, com uma louvável alegria pela glória. Consideram esse anseio pecaminoso e vão. O homem deve se gloriar de “não sei que tragédia cabalística”. “É indignante, profano e risível acreditar que os deuses precisam da gratidão, do temor, do respeito, do amor e da veneração dos homens por qualquer razão que não seja o próprio homem.” A doutrina da justificação pela fé corrompe, sob o pretexto de reformar a religião deformada, o único aspecto ainda bom que restava nela. Com a saudação “a paz seja convosco”, seus pregadores não fazem mais do que espalhar a guerra, de modo que cada um desses pedantes enfatuados acredita ter dentro do peito um catecismo particular. Para conquistar as coisas invisíveis, que não compreendem, não é necessário, segundo eles, mais do que uma eleição imutável pela graça, que depende exclusivamente das paixões da divindade. Os homens não se salvam por suas ações, mas por sua conformidade com o catecismo[7].
III.
De 1578 a 1583, Bruno percorreu a França católica. Durante dois anos tranquilos, foi professor ordinário de filosofia em Toulouse, onde leu especialmente Aristóteles. Como doutor e professor ordinário de filosofia, tinha autorização para participar da vida acadêmica da Universidade de Paris e logo se apresentou nesse centro de ensino filosófico. Na capital da filosofia católica, encontrou um terreno neutro com a arte luliana. Chamou atenção ao utilizar essa arte a serviço da mnemotécnica e da retórica, e assim pôde estabelecer relações condizentes com seus talentos, que lhe abriram a visão para o grande mundo. Henrique III ouviu falar das proezas mnemônicas do italiano, conversou com ele e interessou-se por sua ciência mnemotécnica. Bruno lhe dedicou seu denso tratado “Sobre as Sombras das Ideias”. Foi nomeado professor extraordinário com salário. Teve tempo para se dedicar a uma intensa atividade literária. Em 1582, foram impressos quatro de seus trabalhos. Seja pelas resistências que encontrou, seja pela inquietação científica – que também levou outros homens notáveis da época a mudarem de sede com mais frequência do que o necessário – , o fato é que, no final de 1583, deixou Paris e seguiu para Londres, munido de recomendações do rei Henrique para seu embaixador.
Esses cinco anos no mundo católico francês, no centro de toda a filosofia católica, foram de importância extraordinária para a filosofia definitiva de Bruno. Ao abandonar o claustro, já nada tinha a ver com a vida monástica e o catolicismo vulgar. O protestantismo, após a experiência em Genebra, estava perdido para sempre. Percebeu os vínculos do catolicismo, em todas as manifestações de sua vida, com Aristóteles, que ainda dominava as cátedras filosóficas da época e havia se instalado até mesmo nas cátedras protestantes. Aristóteles, Ptolomeu e o dogma eclesiástico – tudo em um só: eis a besta catedrática de três cabeças que o ameaçava e perseguia por onde quer que fosse. Em Toulouse, em Paris, em Oxford. Agora, declarava guerra contra ela. Foi o primeiro entre os grandes filósofos que buscaram uma existência fora dessa atmosfera teologizante das cátedras. Teve de conquistar essa posição por meio de uma guerra encarniçada e, externamente, desditosa. Escrever contra a escola aristotélica equivalia, então, a agir. Assim como Bruno, muitos daqueles que atacaram essa tradição acadêmica a haviam conhecido nos claustros e ensinado Aristóteles em suas aulas de teologia. A luta empreendida por Bruno se desdobra em todas as suas obras. Como um cavaleiro errante, combateu nas mais diversas universidades europeias. Como Telésio e Campanella, atacou especialmente a filosofia natural de Aristóteles. Compreendeu que o mundo dual de Aristóteles – celeste e sublunar – , em união com o geocentrismo, constituía o fundamento científico de todo o edifício dogmático. Odiava em Aristóteles o carrasco de todas as demais filosofias divinas: como Bacon, dizia que Aristóteles havia assassinado seu irmão para reinar com maior segurança, à maneira dos sultões de Constantinopla. Mas o inimigo de Aristóteles estava longe de buscar aliados entre os humanistas da época. Em suas comédias juvenis, seu ideal cômico era o pedante, e este se caracteriza, nos grandes diálogos, pelos traços dos heróis falastrões e gramaticais daqueles dias. Pelo contrário, adere à vibrante educação renascentista que brilha na sociedade distinta e na corte. Virtuoso da conversação, transbordante de alegria, humor e capricho, brincando como um mestre com seu saber, conseguiu conquistar em Paris o favor do rei renascentista e, bem-quisto nos círculos mais ilustres, destacou-se na corte da Inglaterra.
IV.
A estada de Bruno na Inglaterra, de 1583 a 1585, representa o ápice de sua vida. Antes em Paris e agora em Londres, encontra algo da felicidade que buscava em sua peregrinação: fama, o favor dos reis e dos grandes, a simpatia das damas. O Renascimento italiano constitui o elemento social e espiritual cujo fino aroma impregnava a vida cortesã e poética daqueles dias. Podemos imaginar o encanto exercido pela conversação de Giordano Bruno ao constatar que ele se abriu caminho, sobrepondo-se aos sábios mais respeitados, até a corte e a sociedade mais elegante. Henrique III o recomendou a seu embaixador Castelnau e, após alguns cursos em Oxford – onde defendeu brilhantemente o sistema copernicano – , passou a viver na casa do embaixador francês como seu cavalheiro. Tornou-se amigo íntimo de Philip Sidney. Sobrinho de Leicester e favorito da rainha, Sidney era o modelo das mais refinadas maneiras cortesãs, da bravura cavalheiresca e da poesia elegante. Nele se encarnava, de forma brilhante, a fusão do poderoso e excêntrico espírito inglês com o Renascimento italiano. Era um platônico. Quando, em sua coroa de sonetos, nos conta como a virtude assumiu a forma de Stella, “descobrindo aquele céu que as almas heroicas veem em virtude de seu sentimento interior”, essa transição da paixão amorosa pessoal para o ideal e o místico nos remete à coroa de sonetos de Giordano Bruno, escrita na época de sua amizade com Sidney. A afinidade entre a coroa de sonetos de Bruno, a de Sidney e a de Shakespeare – vivendo os três na mesma corte e na mesma época – representa um dos problemas mais interessantes da história da literatura. Duas de suas mais belas obras artístico-filosóficas foram dedicadas a Philip Sidney. Giordano conheceu os ingleses mais notáveis de seu tempo. A rainha Isabel o ouvia com agrado, e Giordano retribuiu sua atenção com louvores impregnados de todo o rebuscamento cortesão. Na refinada sociedade de Castelnau, sua alma adquire as proporções que lhe são naturais. É ali que, pela primeira vez, sente-se verdadeiramente ele mesmo. Assim, nessa época venturosa que durou menos de dois anos, surgem, uma após a outra, em língua italiana, as seis obras filosófico-artísticas que o converteram no maior escritor-filósofo de seu século. Costuma-se notar que um estado de ânimo feliz em determinada fase da vida confere às obras de um escritor uma força e uma harmonia que ele jamais voltará a alcançar. Assim aconteceu com Bruno na Inglaterra de Isabel e de Shakespeare. A isso se acrescenta um crescimento substancial de sua grande alma nesse ambiente grandioso. Em nenhuma outra parte que não fosse a pátria de Shakespeare e de Carlyle ele poderia ter escrito a magnífica obra Dos Furores Heroicos. Nesse país, em contato íntimo com Sidney, na presença desse mundo heroico que também compunha o horizonte de Shakespeare, o entusiasmo à maneira de Plotino intensifica-se em um sentimento vital heroico; seu espírito filosófico-poético liberta-se de todas as amarras da tradição escolar e abandona-se, pela primeira vez, em sua língua materna, às inspirações de seu gênio, em combinações científicas profundas, em uma polêmica vigorosa e em uma ironia desenfreada. No reinado da grande Isabel, surgem, ao lado dos maiores dramas de todos os tempos, as obras artístico-filosóficas mais perfeitas do século. Ambas as criações nos oferecem a mesma riqueza exuberante, a mesma mistura de melancolia e humor, segundo o motto de sua comédia: in tristitia hilaris, in hilaritate tristis, e o mesmo estilo excêntrico e sobrecarregado do século que chegava ao fim. As obras italianas desses anos londrinos, escritas, por assim dizer, ao voo, com a segurança do gênio, marcam a maturidade da juventude. À obra italiana não impressa Purgatorio del’Inferno seguiram-se: Cena de le Ceneri (1584), Della causa, principio ed uno (1584), Del’infinito, universo e mondi (1584), Spaccio della bestia trionfante (1584), Cabala del cavallo pegaseo (1585), Degli eroici furori (1585).
V.
Ao deixar Londres, despede-se de sua felicidade. Acompanha o embaixador a Paris. As coisas são diferentes de antes, pois agora ele é o corifeu de uma nova concepção do mundo, que expôs em suas obras. Com a ajuda de seu discípulo Jean Hennequin, empreende disputas públicas (Páscoa de 1586) para defender sua filosofia monista contra a Igreja e contra o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu, sustentando o movimento da Terra e a infinitude do mundo. Era a luta entre a concepção de mundo que reinava havia dois milênios e a nova era – uma luta que já iniciara nas disputas de Oxford, mas que agora, na capital da especulação católica, se intensificou ainda mais. Logo teve de abandonar Paris.
Supôs que na Alemanha protestante encontraria um refúgio pacífico para continuar trabalhando em prol de sua filosofia e, após algumas tentativas em diferentes localidades, pôde desenvolver, durante dois anos, na cidade de Wittenberg – a cidade de Lutero e Melâncton – , uma atividade relativamente tranquila em favor da filosofia de uma nova época. As coisas foram muito diferentes do que em Londres. Escreveu apenas em latim, certamente porque o êxito de suas últimas obras fora limitado pelo uso da língua italiana. Isso pode ser inferido do fato de ele ter empreendido a reelaboração, em latim, das mais importantes dessas obras. Alberto Magno, Nicolau de Cusa – que, se não tivesse sido sacerdote, teria superado Pitágoras – , Copérnico – que em dois capítulos ensina mais do que Aristóteles e todos os peripatéticos em todas as suas obras – , Paracelso – o segundo depois de Hipócrates – , esses profundos pensadores alemães são seus guias nesta última etapa do desenvolvimento de seu pensamento, rumo a um severo reino do abstrato que ele apenas vislumbra à distância. Com esse propósito, busca os fundamentos do conhecimento matemático da natureza; em suas duas últimas obras, emprega o método construtivo: “É preciso colocar a consideração do mínimo diante da ciência física, matemática e metafísica”[8]. Mas suas relações com o espírito alemão vão além. Na cidade de Lutero, ele toma consciência da importância do espírito alemão. A expressão desse estado de ânimo encontra-se em seu discurso de despedida à Atenas alemã, em 8 de março de 1588. Esse discurso é um documento surpreendente sobre a liberdade que ainda reinava em Wittenberg. “Cheguei a vós como estrangeiro, exilado e em busca de refúgio, joguete nas mãos do destino, sem qualquer posição, pobre, sem proteção, carregado com o ódio da multidão e, portanto, desprezível para as pessoas vãs e comuns.” As autoridades universitárias garantiram-lhe a liberdade da investigação filosófica, e ele lhes agradece pelo tratamento recebido e por não terem dado ouvidos a seus inimigos.[9] Mas manifesta a impressão que a Alemanha do século da Reforma lhe causa em palavras notáveis: “Fazei, ó Júpiter, que conheçam suas próprias forças e se dediquem a coisas maiores, pois então já não serão homens, mas deuses.” Na sede de Lutero, ele sente sua grandeza heroica: “Quando o representante do príncipe das trevas infestava o mundo com o culto supersticioso e a rude ignorância, e ninguém ousava enfrentar a besta voraz, que outra parte da Europa e do mundo poderia ter produzido semelhante Alcides?”
“Tu viste, ó Lutero, a luz, percebeste o espírito divino e, sem armas, enfrentaste os terríveis inimigos do rei e os venceste com a palavra.”
Não há motivo para interpretar retoricamente essa frase sobre a grandeza heroica de Lutero. Quando Bruno escreveu essas palavras, estava prestes a deixar Wittenberg. O ato libertador de Lutero o coloca, aos seus olhos, acima de toda a massa protestante, que lhe parecia tão pouco respeitável. Ao reconhecê-lo assim, ele não expressa nenhuma adesão à fé protestante, que então, como sempre, rejeitava.
Ao deixar Wittenberg, busca assegurar uma posição na corte do imperador Rodolfo II, em Praga. Conquista o favor da corte em Helmstedt, mas é excomungado pelo superintendente. A partir de 1590, passa a publicar novas obras em Frankfurt. Essa é a segunda fase produtiva de sua vida, a da maturidade varonil, mas marcada por estranhas especulações matemáticas sob a influência da ciência alemã. As três principais obras desse período são representadas pela reelaboração de seu diálogo italiano no poema Sobre o imensurável e o incontável, ou O universo e o mundo, escrito, à maneira de seu Lucrécio, em hexâmetros latinos, seguidos, segundo o costume italiano, de glosas em prosa. A obra foi iniciada em Helmstedt, e ele seguiu para Frankfurt a fim de imprimi-la ali. A segunda obra, Sobre o mínimo triplo, também foi impressa durante sua estadia em Frankfurt. A terceira obra, Sobre a unidade, o número e a figura, encontrava-se em impressão quando ele abandonou repentinamente Frankfurt, em fevereiro de 1591, para ir ao encontro de seu destino.
VI.
O processo de Bruno foi recentemente esclarecido com os autos venezianos e romanos da Inquisição. Vê-se a importância que a cúria deu ao caso, as figuras relevantes que nele participaram, como se passou da denúncia do jovem nobre veneziano, que o atraiu para a armadilha inquisitorial, para suas obras e como, pela correspondência entre elas e a denúncia, esta foi considerada, em essência, verossímil. Mocenigo o ouviu dizer que não gostava de nenhuma religião, que queria fundar uma nova seita com o nome de “nova filosofia”, e isso coincide com uma comunicação do prior do convento dos carmelitas de Frankfurt: “Se quisesse, poderia fazer com que todo o mundo tivesse uma só religião”. Ambas as informações concordam, em termos gerais, pois, segundo elas, todas as religiões particulares deveriam ser substituídas pela fé racional, de modo que esta permanecesse como religião universal. Vemos também como Bruno utilizou, por sua vez, essa cômoda contabilidade em dupla entrada, que distingue verdades filosóficas e teológicas, para se amparar, contra sua convicção, nesse equívoco. Mas o ensinamento decisivo desses autos é que, em Roma, o processo foi deliberadamente prolongado por seis anos para que ele se retratasse de sua filosofia, e não houve força capaz de movê-lo a isso. Isso determinou seu destino. Se em Roma correu a anedota de que ele teria dito que morria voluntariamente como mártir da verdade, essa afirmação estava em conformidade com o cerne da questão. Na manhã de 17 de fevereiro de 1600, foi queimado diante do antigo teatro de Pompeu. Quando lhe apresentaram, já agonizante e sem exalar nenhum gemido, um crucifixo, ele virou a cabeça com desprezo.
[1] Della causa, dialogo terzo, ed. Wagner, p. 250.
[2] Ibid.
[3] No mesmo lugar.
[4] De immenso, I, III c. 9; Fiorentino, I, 1, 380, I.
[5] Della causa, dialogo primo, ed. Wagner, 222.
[6] Spaccio della bestia trionfante, substituindo Perseu.
[7] Bestia trionfante, primeiro diálogo e início do segundo. Não é possível dar em poucas palavras uma ideia do ódio de Bruno pelo calvinismo.
[8] De tripl. min., Gfrör., p. 20.
[9] Jord. Bruno, Opera latina rec. Fiorentino, I, 1, pp. 22, 23.