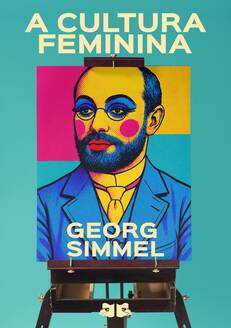Você irá ler, a seguir, um trecho de “A Cultura Feminina” de Georg Simmel. Se deseja saber mais sobre o livro, clique aqui, ou na capa abaixo.
A mulher historiadora
Se é verdadeiro o princípio de que uma disposição subjetiva distinta produz um conhecimento distinto, a alma feminina também poderia criar produtos específicos na ciência da história. A crítica do conhecimento demonstrou a falsidade e superficialidade desse realismo que considera a ciência histórica como uma reprodução o mais fiel e fotográfica possível dos acontecimentos “tal como realmente foram”. A história não é uma translação da realidade imediata para a consciência científica. Sabemos hoje que o acontecer não é conhecido como tal, mas sim vivido, e que a história se constitui graças à atividade de certas funções, determinadas pela estrutura e intenções do espírito que conhece. A história – resultado dessa atividade – conserva o caráter determinado dessas funções. Não por isso devemos considerar a história como algo “subjetivo”, como algo alheio à distinção entre verdade e erro. A verdade não é a reprodução dos acontecimentos no espelho do espírito. A verdade consiste em certa relação funcional entre o espírito e os acontecimentos, de maneira que as representações, seguindo suas próprias necessidades, obedecem ao mesmo tempo a uma exigência das coisas, exigência que, seja qual for, não consiste, sem dúvida, em ser fotografadas pelas representações.
Refiro-me aqui apenas a um dos problemas onde se manifesta esse caráter da visão histórica, que depende, inevitavelmente, da estrutura espiritual do historiador e das peculiaridades dessa estrutura. Se o conhecimento histórico se limitasse ao que, em sentido estrito, comprovamos, teríamos um monte de fragmentos desconexos. Para formar com eles as séries uniformes da “história”, precisamos constantemente interpolar, completar por analogia, ordenar segundo conceitos de evolução. De outro modo, não podemos descrever nem mesmo o tráfego de uma rua que vimos com nossos próprios olhos. Mas, abaixo dessa camada em que até as séries dos fatos imediatos recebem, por espontaneidade espiritual, seus nexos e significações, existe outra, que é a que propriamente informa a história. E nela essa espontaneidade é decisiva. Suponhamos que conhecêssemos integralmente todos os acontecimentos que podem ser comprovados pelos sentidos no mundo humano. Pois tudo isso que saberíamos pela vista, pelo tato ou pela audição seria tão indiferente, tão insignificante como o passar das nuvens pelo céu ou o rumor do vento na copa das árvores, se não atribuíssemos a ele uma interpretação psicológica, ou seja, se após esse acontecer externo não colocássemos um pensamento, um sentimento, uma vontade, que nunca podemos estabelecer imediatamente, mas que suspeitamos, inferimos, introduzimos nos fatos graças à nossa fantasia sensitiva.
Essa construção da história por meio de nossa imaginação, que reproduz internamente o que é eternamente inacessível à experiência – pois o exterior não tem sentido histórico senão como manifestação das almas, como consequência ou causa dos processos psíquicos –, geralmente não é claramente percebida; porque a vida cotidiana também transcorre em contínuas suposições sobre o valor psíquico das manifestações humanas, que sabemos interpretar na prática com grande segurança e plena evidência.
Agora, essa interpretação psicológica que o historiador realiza supõe uma relação peculiar de igualdade e desigualdade entre o sujeito e seus objetos. Deve haver, primeiro, entre eles, certa igualdade fundamental. De fato, um habitante do globo terrestre talvez não “compreenderia” o habitante de outra estrela, mesmo que conhecesse pontualmente toda sua atitude e conduta exterior. Em geral, compreendemos melhor nossos compatriotas do que os estrangeiros, nossos familiares melhor do que os estranhos, os homens de temperamento semelhante ao nosso melhor do que os de temperamento contrário. Se compreender é como reproduzir um processo psíquico que não podemos perceber diretamente, então, compreenderemos um espírito tanto melhor quanto mais nos assemelharmos a ele. No entanto, não deve haver nisso o paralelismo de uma reprodução mecânica. Não é necessário ser um César para compreender César, nem um Santo Agostinho para compreender Santo Agostinho. É mais: algo de diferença introduz muitas vezes uma distância ou afastamento mais favorável para o conhecimento psicológico do outro do que a identidade do tipo psíquico.
A inteligência psicológica – e, portanto, também a histórica – é visivelmente determinada por uma relação muito variável entre seu sujeito e seu objeto. Essa relação ainda não foi analisada, mas com certeza não pode ser definida com a expressão abstrata de uma simples mistura quantitativa de igualdade e desigualdade. Mas de tudo o que já dissemos, uma conclusão parece se desprender: dentro de certo limite, envolto, sem dúvida, em construções fantásticas e frágeis, uma mesma imagem externa produz em almas diferentes imagens internas diferentes, isto é, imagens que insinuam no externo uma interpretação psicológica; e todas essas imagens internas são igualmente válidas. Não se trata de hipóteses distintas sobre um mesmo objeto real; não se trata de explicações, uma das quais só pode ser a exata (embora isso também aconteça com bastante frequência). Essas imagens internas guardam entre si a mesma relação que os diferentes retratos de um mesmo modelo por pintores distintos, mas todos igualmente qualificados. Nenhum desses retratos é “o exato”; cada um constitui um conjunto fechado, que se justifica em si mesmo e por sua peculiar relação com o modelo; cada um manifesta do modelo algo que os outros não dizem, mas que também não desmentem[1].
A interpretação psicológica que as mulheres fazem dos homens é, em muitos pontos, radicalmente distinta da que fazem de si mesmas, e inversamente. Goethe, em certa ocasião, manifesta – contradizendo-se, ao que parece – que sua ideia das mulheres lhe era, sem dúvida, inata, e que, por isso mesmo, seus tipos femininos eram melhores do que a realidade. Propriamente, não se deve supor (e Goethe seria o último a fazê-lo) que as ideias inatas sejam mentirosas. No entanto, nessa expressão paradoxal se revela efetivamente o sentimento de que a concepção profunda das almas alheias depende da alma própria do sujeito que as concebe. Existe, além disso, uma experiência geral, impessoal, sobre os homens. E essa experiência não precisa coincidir sempre com aquela outra que nasce do nosso ser profundo e penetra nos outros.
Das razões indicadas, parece-me que podemos concluir que, sendo a história, em certo sentido, uma psicologia aplicada, a índole feminina pode constituir a base de produções muito originais na pesquisa histórica. A mulher, por ser mulher, contém em sua alma uma mistura de igualdade e desigualdade com o objeto histórico em proporções distintas das do homem, razão pela qual deve ver coisas diferentes das que o homem vê. Mas, além disso e, sobretudo, deve ver as mesmas coisas de maneira diferente, precisamente por ser distinta sua peculiar estrutura psicológica. Assim como para a natureza da mulher a existência, em geral, aparece sob outro prisma do que para o homem, sem que essas duas interpretações sucumbam à simples alternativa de verdade ou falsidade, também o mundo histórico, refletido na alma feminina, deve oferecer um aspecto distinto em suas partes como no seu conjunto. Essas possibilidades podem parecer muito problemáticas e sua importância pode, por ora, ficar limitada a uma questão de princípio. Mas, em minha opinião, cabem na ciência histórica funções especificamente femininas, produtos baseados na especial constituição dos órgãos perceptores, sentimentais e construtivos da mulher, desde a mais fina inteligência dos movimentos populares até a intuição aguda das motivações inconfessadas, e até mesmo a simples interpretação das inscrições.
A mulher escritora
Onde mais admissível deve parecer a atuação feminina em prol da cultura é, sem dúvida, na esfera da arte. Já se percebem indícios disso. Já existem na literatura uma série de mulheres que não têm a ambição servil de escrever “como um homem”, que não delatam, pelo uso de pseudônimos masculinos, o desconhecimento total das originalidades próprias e específicas de seu sexo. Sem dúvida, é muito difícil, até mesmo na cultura literária, dar expressão aos matizes femininos, porque as formas gerais da poesia são criações do homem, e como, por ora, ao menos, as formas poéticas especificamente femininas, embora possíveis, ainda ficam restritas às regiões da Utopia, subsiste uma leve contradição com o propósito de preencher as formas masculinas com um conteúdo feminino. Na lírica feminina, e justamente em suas produções mais bem-sucedidas, percebo muitas vezes um certo dualismo entre o conteúdo pessoal e a forma artística, como se a alma criadora e a expressão não tivessem o mesmo estilo. A vida íntima da mulher tende a objetivar-se em figuras estéticas; mas, por um lado, não consegue preencher os contornos dessas figuras, de maneira que, para satisfazer às exigências formais, vê-se obrigada a recorrer a certa trivialidade e convencionalismo, e, por outro lado, sempre fica dentro um resto de sentimento vivo que permanece informe e sem expressão.
Talvez aqui se aplique o que se diz de que “a poesia é traição”. Porque parece que as duas necessidades humanas, a de se revelar e a de se ocultar, estão misturadas na alma feminina com proporções diferentes das da masculina. Agora, as formas tradicionais internas da lírica – o vocabulário, a esfera sentimental em que se mantém, a relação entre o sentimento e o símbolo expressivo – supõem um módulo geral da expressão psíquica cujo caráter é nitidamente masculino. E se a alma feminina, de temperamento bem diferente, quer expressar-se nas mesmas formas, deve resultar daqui, por um lado, certo desabrimento (que, sem dúvida, se encontra também em muitos líricos masculinos, sem que por isso deva prescindir-se de um elo tão geral), e, por outro lado, a chocante impudicícia que em algumas poetisas modernas brota como espontânea da discrepância entre seu ser e o estilo tradicional do lirismo, e em outras revela um grande desvio interno da índole feminina. De todo modo, as publicações destes últimos anos me parecem prenunciar, ainda que com leve voo, a formação de um estilo lírico especificamente feminino.
Além disso, é interessante notar que na esfera da canção popular há muitos povos em que as mulheres produzem com a mesma fecundidade e originalidade que os homens. Isso significa que, em uma cultura ainda não desenvolvida, quando ainda não existe uma plena objetivação do espírito, não há ocasião para que se manifestem as discrepâncias das quais tratamos. Se as formas da cultura ainda não receberam um selo fixo e especial, não podem ter também um caráter masculino predominante; e então as energias femininas, encontrando-se ainda em estado de indiferenciação (que corresponde à maior igualdade física dos sexos, observada pelos antropólogos em povos primitivos), não precisam exteriorizar-se em formas inadequadas, mas se plasmam livremente seguindo suas próprias normas, que, nesses casos, não estão ainda, como hoje, diferenciadas das masculinas.
Aqui, como em muitos outros processos evolutivos, o estágio superior repete a forma do estágio inferior. A produção mais sublime da cultura espiritual, a matemática, é talvez também a que mais se distancia da diferença entre homem e mulher. Os objetos da matemática não dão a menor ocasião para que o intelecto reaja de modo distinto no homem que na mulher. Assim, se explica que seja precisamente na matemática, mais do que em outras ciências, onde as mulheres têm demonstrado profunda penetrabilidade e realizado trabalhos notáveis. A abstração da matemática está, por assim dizer, além da diferença psicológica entre os sexos, assim como a esfera do canto popular está antes dela.
A criação novelesca parece oferecer às mulheres menos dificuldades do que os outros gêneros literários, porque seu problema e sua estrutura artística ainda não estão fixados em formas rígidas e rigorosas. Os contornos da novela não são fixos; seus fios se entrelaçam sem se retomarem em uma unidade fechada. Muitos acabam por se perder, por assim dizer, fora de seus limites, no indeterminado. Seu realismo inevitável não permite que se escape ao caos da realidade e se organize em estruturas rítmicas, regulares, como a lírica e o drama. Nestes últimos gêneros literários, a rigidez da forma é como uma condição prévia de masculinidade. Em contrapartida, a laxidão, a flexibilidade da novela deixam um campo aberto para a atividade propriamente feminina. Por isso, o instinto tem levado as mulheres de temperamento literário para a novela, que viram neste gênero sua esfera própria e peculiar. A forma novelesca, por ser, em sentido rigoroso, não “forma”, acaba sendo suficientemente maleável. E assim, existem algumas novelas modernas que podem ser contadas entre as criações específicas do sexo feminino.
[1] Sobre estas condições a priori da história, veja meu livro “Problemas da filosofia da história”, primeiro capítulo.