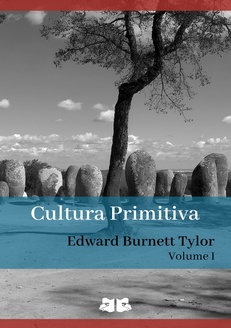Você irá ler, a seguir, um trecho de “Cultura Primitiva”, de Edward B. Tylor. Caso tenha interesse em adquiria a obra completa, ou conhecer mais detalhes da edição, clique aqui, ou na capa abaixo.
I. A ciência da cultura
Cultura ou Civilização, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é esse todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. A condição da cultura entre as diversas sociedades humanas, na medida em que pode ser investigada segundo princípios gerais, constitui um tema adequado para o estudo das leis do pensamento e da ação humanos. Por um lado, a uniformidade que em grande parte permeia a civilização pode ser atribuída, em grande medida, à ação uniforme de causas uniformes; por outro lado, seus diversos níveis podem ser considerados estágios de desenvolvimento ou evolução, cada um resultante de uma história anterior e prestes a desempenhar seu papel próprio na formação da história futura. À investigação desses dois grandes princípios em diversos campos da etnografia – com especial atenção à civilização das tribos inferiores em relação à civilização das nações superiores – se dedicam os presentes volumes.
Nossos estudiosos modernos das ciências da natureza inorgânica são os primeiros a reconhecer, tanto dentro quanto fora de seus campos específicos de trabalho, a unidade da natureza, a fixidez de suas leis, a sequência definida de causa e efeito pela qual cada fato depende do que o precedeu e atua sobre o que virá depois. Eles aderem firmemente à doutrina pitagórica da ordem que permeia o Cosmos universal. Afirmam, com Aristóteles, que a natureza não é cheia de episódios incoerentes, como uma tragédia mal escrita. Concordam com Leibniz em seu chamado “meu axioma, de que a natureza nunca age aos saltos (la nature n’agit jamais par saut)”, bem como em seu “grande princípio, geralmente pouco empregado, de que nada acontece sem razão suficiente”. E também, ao estudar a estrutura e os hábitos de plantas e animais, ou ao investigar as funções inferiores mesmo do homem, essas ideias fundamentais não deixam de ser reconhecidas. Mas, quando se trata dos processos superiores do sentimento e da ação humanos – do pensamento e da linguagem, do conhecimento e da arte –, nota-se uma mudança no tom dominante da opinião. O mundo em geral está longe de aceitar o estudo da vida humana como um ramo das ciências naturais, e de levar a cabo, em sentido amplo, o mandamento do poeta de “explicar o moral como se explica o natural”. A muitas mentes cultas, parece presunçosa e repulsiva a ideia de que a história da humanidade faz parte integrante da história da natureza; de que nossos pensamentos, vontades e ações se ajustam a leis tão definidas quanto aquelas que regem o movimento das ondas, a combinação de ácidos e bases, e o crescimento das plantas e dos animais.
As principais razões desse estado do juízo popular não são difíceis de identificar. Muitos aceitariam de bom grado uma ciência da história, se esta lhes fosse apresentada com princípios e evidências suficientemente definidos; mas, com razão, rejeitam os sistemas que lhes são oferecidos, por estes ficarem muito aquém de um padrão científico. Diante de uma resistência desse tipo, o verdadeiro conhecimento sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, abrindo caminho; e o hábito de se opor à novidade presta, aliás, um excelente serviço contra as invasões do dogmatismo especulativo – a ponto de podermos até desejar, por vezes, que fosse mais forte do que é. Mas outros obstáculos à investigação das leis da natureza humana surgem de considerações de ordem metafísica e teológica. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve não apenas a liberdade de agir em conformidade com um motivo, mas também um poder de romper com a continuidade e agir sem causa – uma combinação que pode ser ilustrada, de forma aproximada, pela comparação com uma balança que às vezes age como se espera, mas que também possuiria a faculdade de se mover sozinha, sem ou contra os pesos. Essa concepção de uma ação anômala da vontade – que, nem é preciso dizer, é incompatível com o raciocínio científico – subsiste como opinião manifesta ou latente na mente das pessoas, afetando fortemente suas visões teóricas da história, ainda que, geralmente, não seja trazida à tona de maneira proeminente em argumentações sistemáticas. De fato, a definição da vontade humana como estritamente conforme ao motivo é a única base científica possível em tais investigações. Felizmente, não é preciso somar mais um à lista de dissertações sobre intervenção sobrenatural e causalidade natural, sobre liberdade, predestinação e responsabilidade. Podemos apressar-nos a sair das regiões da filosofia transcendental e da teologia, para iniciar uma jornada mais promissora sobre um terreno mais praticável. Ninguém negará que, como cada um sabe por evidência de sua própria consciência, uma causa definida e natural determina, em grande medida, a ação humana. Então, deixando de lado as considerações sobre interferência extranatural e espontaneidade sem causa, tomemos essa existência admitida de causa e efeito naturais como nosso ponto de apoio, e caminhemos com ela tanto quanto ela nos sustentar. É sobre essa mesma base que a ciência física persegue, com êxito sempre crescente, sua busca pelas leis da natureza. Nem essa limitação precisa restringir o estudo científico da vida humana, cujas verdadeiras dificuldades são de ordem prática: a enorme complexidade das evidências e a imperfeição dos métodos de observação.
Ora, parece que essa visão da vontade e da conduta humanas como sujeitas a uma lei definida é de fato reconhecida e aplicada pelas mesmas pessoas que a contestam quando ela é formulada abstratamente como princípio geral, e que então se queixam de que tal concepção aniquila o livre-arbítrio do homem, destrói seu senso de responsabilidade pessoal e o rebaixa a uma máquina sem alma. Quem diz tais coisas, no entanto, passa boa parte da própria vida estudando os motivos que levam à ação humana, buscando atingir seus desejos por meio deles, elaborando teorias mentais sobre o caráter das pessoas, calculando quais devem ser os efeitos de novas combinações – e dando ao seu raciocínio o traço distintivo da verdadeira investigação científica, ao tomar como certo que, se seu cálculo se mostrar errado, é porque ou sua evidência era falsa ou incompleta, ou seu juízo sobre ela foi falho. Tal pessoa resumirá a experiência de anos vividos em relações complexas com a sociedade declarando sua convicção de que há uma razão para tudo na vida, e que, quando os acontecimentos parecem inexplicáveis, a regra é esperar e observar com a esperança de que a chave do problema venha um dia a ser encontrada. A observação desse homem pode ter sido tão limitada quanto suas inferências são toscas e preconceituosas, mas, ainda assim, ele tem sido um filósofo indutivo “por mais de quarenta anos sem saber”[1]. Ele reconheceu na prática a existência de leis definidas do pensamento e da ação humanos, e simplesmente deixou de lado, em seus próprios estudos sobre a vida, toda a construção teórica de uma vontade sem motivos e de uma espontaneidade sem causa. Parte-se aqui do princípio de que essa construção deve ser igualmente excluída dos estudos mais amplos, e de que a verdadeira filosofia da história consiste em ampliar e aperfeiçoar os métodos das pessoas comuns, que formam seus juízos com base nos fatos e os corrigem à medida que surgem novos fatos. Seja essa doutrina totalmente ou apenas parcialmente verdadeira, ela adota a própria condição sob a qual buscamos novo conhecimento nas lições da experiência e, em suma, toda a trajetória de nossa vida racional se fundamenta nela.
“Um acontecimento é sempre filho de outro, e não devemos nunca esquecer sua origem” – foi o que disse um chefe bechuana a Casalis, o missionário africano. Assim também, em todos os tempos, os historiadores – na medida em que procuraram ser mais que simples cronistas – fizeram o possível para mostrar não apenas a sucessão, mas também a conexão entre os acontecimentos que registraram. Além disso, esforçaram-se por extrair princípios gerais da ação humana e, por meio deles, explicar eventos particulares, afirmando expressamente ou pressupondo tacitamente a existência de uma filosofia da história. Se alguém negar a possibilidade de se estabelecerem leis históricas, está pronta a resposta com que Boswell, em tal caso, confrontou Johnson: “Então, senhor, o senhor reduziria toda a história a nada mais do que um almanaque.” Que, ainda assim, os trabalhos de tantos pensadores eminentes tenham levado a história apenas ao limiar da ciência não deve causar espanto a quem considere a desconcertante complexidade dos problemas enfrentados pelo historiador geral. As evidências das quais ele deve extrair suas conclusões são ao mesmo tempo tão numerosas e tão duvidosas, que é quase impossível obter uma visão plena e clara de sua relação com uma questão específica – e, por isso, a tentação de distorcê-las para apoiar alguma teoria apressada sobre o curso dos acontecimentos torna-se quase irresistível. A filosofia da história, tomada em sentido amplo – aquela que explica o passado e prevê os fenômenos futuros da vida humana no mundo com base em leis gerais – é, de fato, um tema com o qual, no estado atual do conhecimento, até mesmo o gênio apoiado por ampla pesquisa parece ter dificuldade em lidar. No entanto, há setores dela que, embora difíceis, parecem relativamente acessíveis. Se restringirmos o campo de investigação da História como um todo àquele ramo que aqui se denomina Cultura – isto é, a história não de tribos ou nações, mas da condição do saber, da religião, da arte, dos costumes e afins entre essas populações –, a tarefa da investigação revela-se bem mais limitada. Continuamos a enfrentar o mesmo tipo de dificuldade que acompanha o argumento mais amplo, mas em grau muito menor. A evidência já não é tão desordenadamente heterogênea, podendo ser classificada e comparada de forma mais simples; e a possibilidade de eliminar elementos alheios ao tema e tratar cada questão com seu respectivo conjunto de fatos torna o raciocínio rigoroso, em geral, mais viável do que na história geral. Isso pode ser percebido por meio de um breve exame preliminar da seguinte questão: como os fenômenos da Cultura podem ser classificados e organizados, etapa por etapa, numa ordem provável de evolução.
Observado de forma ampla, o caráter e os hábitos da humanidade revelam de imediato uma semelhança e uma coerência de fenômenos tais que levaram o provérbio italiano a afirmar que “todo o mundo é um só país” – tutto il mondo è paese. A essa semelhança e coerência se pode, sem dúvida, atribuir, de um lado, a semelhança geral da natureza humana e, de outro, a semelhança geral nas circunstâncias da vida; e tais características podem ser estudadas com especial pertinência ao se comparar povos situados em graus semelhantes de civilização. Pouca atenção é necessária, nessas comparações, à data histórica ou à posição geográfica; o antigo habitante dos lagos suíços pode ser comparado ao asteca medieval, e o ojíbua da América do Norte ao zulu da África do Sul. Como disse com desdém o Dr. Johnson, após ler sobre patagônios e ilhéus do Pacífico Sul nas Viagens de Hawkesworth: “um grupo de selvagens é igual a outro.” Qualquer museu etnológico pode mostrar quão verdadeira é essa generalização. Examine-se, por exemplo, os instrumentos de corte e perfuração em tal coleção: o inventário inclui machado, enxó, formão, faca, serra, raspador, sovela, agulha, ponta de lança e de flecha – e a maioria, ou todos eles, pertencem, com variações apenas de detalhe, às mais diversas raças. O mesmo se observa com as ocupações dos povos selvagens: cortar madeira, pescar com rede ou linha, caçar com arco ou lança, fazer fogo, cozinhar, torcer cordas ou trançar cestos – tudo isso se repete com espantosa uniformidade nas prateleiras dos museus que ilustram a vida dos povos inferiores, de Kamchatka à Terra do Fogo, e do Daomé ao Havaí. Mesmo quando se comparam hordas bárbaras com nações civilizadas, surge inevitavelmente a consideração de até que ponto item após item da vida dos povos inferiores passa a integrar atividades análogas nos povos mais avançados, em formas não tão alteradas a ponto de se tornarem irreconhecíveis – e por vezes quase inalteradas. Observe-se o camponês europeu moderno usando seu machado e sua enxada; veja-se sua comida fervendo ou assando sobre o fogo de lenha; repare-se no lugar exato que a cerveja ocupa em seu cálculo de felicidade; ouça-se seu relato sobre o fantasma que assombra a casa mais próxima, ou sobre a sobrinha do fazendeiro que foi enfeitiçada no ventre, até cair em convulsões e morrer. Se selecionarmos, assim, aspectos que mudaram pouco ao longo dos séculos, poderemos compor um quadro em que mal se note a diferença entre um lavrador inglês e um negro da África Central. Estas páginas estarão tão repletas de evidências dessa correspondência entre os seres humanos, que não há necessidade de deter-se agora em seus detalhes; pode-se, antes, utilizá-la desde já para resolver um problema que complicaria o argumento – a saber, a questão da raça. Para o propósito presente, parece tanto possível quanto desejável eliminar considerações sobre variedades hereditárias ou raças humanas, e tratar a humanidade como homogênea por natureza, embora situada em diferentes graus de civilização. Os detalhes da investigação mostrarão, creio eu, que é possível comparar estágios de cultura sem levar em conta até que ponto tribos que usam o mesmo instrumento, seguem o mesmo costume ou acreditam no mesmo mito diferem quanto à configuração física ou à cor da pele e dos cabelos.
Um primeiro passo no estudo da civilização é dissecá-la em seus detalhes e classificar esses detalhes em seus grupos apropriados. Assim, ao examinar armas, estas devem ser classificadas em categorias como lança, clava, funda, arco e flecha, e assim por diante; entre as artes têxteis, devem-se incluir trançado de esteiras, malhagem de redes e diversos graus de fabricação e tecelagem de fios; os mitos se dividem sob rubricas como mitos do nascer e do pôr do sol, mitos sobre eclipses, mitos sobre terremotos, mitos locais que explicam os nomes de lugares por meio de narrativas fantasiosas, mitos epônimos que explicam a origem de uma tribo transformando seu nome no de um ancestral imaginário; entre os ritos e cerimônias encontram-se práticas como os vários tipos de sacrifício aos fantasmas dos mortos e a outros seres espirituais, o ato de voltar-se para o leste durante o culto, a purificação de impurezas cerimoniais ou morais por meio da água ou do fogo. Estes são apenas alguns exemplos variados dentre uma lista de centenas, e a tarefa do etnógrafo é classificar tais detalhes visando compreender sua distribuição na geografia e na história, bem como as relações que existem entre eles.
O que é essa tarefa pode ser ilustrado quase perfeitamente ao se comparar esses detalhes da cultura com as espécies de plantas e animais estudadas pelo naturalista. Para o etnógrafo, o arco e flecha é uma espécie, o costume de achatar os crânios das crianças é uma espécie, o hábito de contar por dezenas é uma espécie. A distribuição geográfica dessas coisas, e sua transmissão de uma região a outra, devem ser estudadas assim como o naturalista estuda a geografia de suas espécies botânicas e zoológicas. Assim como certas plantas e animais são peculiares a determinadas regiões, o mesmo se dá com instrumentos como o bumerangue australiano, a vareta com ranhura polinésia para fazer fogo, o minúsculo arco e flecha usado como lanceta ou seringa por tribos da região do istmo do Panamá – e de maneira semelhante com muitas artes, mitos ou costumes que se encontram isoladamente num campo particular. Assim como o catálogo de todas as espécies de plantas e animais de uma região representa sua flora e fauna, a lista de todos os elementos da vida geral de um povo representa o conjunto que chamamos sua cultura. E assim como regiões distantes frequentemente produzem vegetais e animais análogos, embora não idênticos, o mesmo se observa nos detalhes da civilização de seus habitantes.
Quão válida é essa analogia de trabalho entre a difusão das plantas e dos animais e a difusão da civilização torna-se especialmente claro quando notamos até que ponto as mesmas causas produziram ambos simultaneamente. Em região após região, as mesmas causas que introduziram as plantas cultivadas e os animais domesticados da civilização trouxeram com elas uma arte e um saber correspondentes. O curso de eventos que levou cavalos e trigo às Américas também levou o uso do mosquete e do machado de ferro, enquanto, em troca, o mundo inteiro recebeu não apenas milho, batatas e perus, mas também o hábito de fumar tabaco e a rede de dormir dos marinheiros.
É algo digno de consideração o fato de que os relatos de fenômenos culturais semelhantes, recorrentes em diferentes partes do mundo, oferecem, incidentalmente, uma prova de sua própria autenticidade. Há alguns anos, uma pergunta que evidencia esse ponto me foi feita por um grande historiador: “Como se pode tratar como evidência uma afirmação sobre costumes, mitos, crenças etc. de uma tribo selvagem, quando ela depende do testemunho de um viajante ou missionário, que pode ser um observador superficial, mais ou menos ignorante da língua nativa, um narrador descuidado de histórias mal verificadas, um homem preconceituoso ou até deliberadamente enganoso?” Essa é, de fato, uma pergunta que todo etnógrafo deveria manter clara e constantemente presente em sua mente. É evidente que ele deve usar seu melhor julgamento quanto à confiabilidade de todos os autores que cita e, se possível, obter vários relatos para confirmar cada ponto em cada localidade. Mas é além dessas medidas de precaução que entra o teste da recorrência.
Se dois visitantes independentes de países diferentes – digamos, um muçulmano medieval na Tartária e um inglês moderno no Daomé, ou um missionário jesuíta no Brasil e um metodista nas Ilhas Fiji – concordam ao descrever alguma arte, rito ou mito análogo entre os povos que visitaram, torna-se difícil ou impossível atribuir tal correspondência ao acaso ou à fraude deliberada. Um relato feito por um fora-da-lei na Austrália pode talvez ser contestado como erro ou invenção, mas será que um pastor metodista na Guiné teria conspirado com ele para enganar o público contando a mesma história lá? A possibilidade de mistificação intencional ou não intencional costuma ser descartada quando ocorre o seguinte: uma afirmação semelhante é feita em duas terras distantes, por duas testemunhas, das quais A viveu um século antes de B, e B aparentemente jamais ouviu falar de A. Quão distantes são os países, quão afastadas as datas, quão diferentes as crenças e os caracteres dos observadores, no catálogo dos fatos da civilização, dispensa maiores provas a quem quer que lance um simples olhar para as notas de rodapé da presente obra. E quanto mais estranha for a afirmação, tanto menos provável será que várias pessoas, em vários lugares, a tenham feito de forma equivocada.
Sendo assim, parece razoável julgar que as afirmações são em sua maioria verdadeiras, e que sua coincidência estreita e regular se deve ao surgimento de fatos semelhantes em várias regiões culturais. Ora, os fatos mais importantes da etnografia são atestados desse modo. A experiência leva o estudioso, com o tempo, a esperar e a encontrar que os fenômenos da cultura, como resultantes de causas semelhantes e de ampla atuação, devam surgir repetidamente no mundo. Ele até desconfia de afirmações isoladas, para as quais não conhece paralelo em nenhum outro lugar, e aguarda que sua autenticidade seja confirmada por relatos correspondentes vindos do outro lado do mundo, ou do outro extremo da história. Tão eficaz é esse meio de autenticação que o etnógrafo, em sua biblioteca, pode às vezes se dar ao luxo de decidir, não apenas se determinado explorador é um observador sagaz e honesto, mas também se o que ele relata está de acordo com as leis gerais da civilização. Non quis, sed quid – “não quem, mas o quê”.
Passemos da distribuição da cultura entre diferentes países à sua difusão dentro desses países. A qualidade da espécie humana que mais contribui para tornar possível o estudo sistemático da civilização é aquele notável consenso tácito ou acordo que leva populações inteiras a se unirem no uso de uma mesma língua, a seguirem a mesma religião e leis costumeiras, a se estabelecerem num mesmo nível geral de arte e conhecimento. É esse estado de coisas que torna possível, até certo ponto, ignorar fatos excepcionais e descrever nações com base numa espécie de média geral. É esse estado de coisas que torna possível, até certo ponto, representar imensas massas de detalhes por meio de alguns fatos típicos, sendo que, uma vez estabelecidos esses fatos, novos casos registrados por novos observadores simplesmente se encaixam em seus devidos lugares, comprovando a solidez da classificação. Verifica-se tamanha regularidade na composição das sociedades humanas que podemos deixar de lado as diferenças individuais e, assim, generalizar as artes e opiniões de nações inteiras, do mesmo modo que, ao olhar de cima um exército do alto de uma colina, esquecemos o soldado individual – que, de fato, mal conseguimos distinguir no conjunto – enquanto vemos cada regimento como um corpo organizado, que se espalha ou se concentra, avança ou recua.
Em alguns ramos do estudo das leis sociais, já é possível recorrer à ajuda da estatística e separar ações específicas de grandes comunidades humanas mistas por meio dos registros dos arrecadadores de impostos ou das tabelas das companhias de seguros. Entre os argumentos modernos sobre as leis da ação humana, poucos tiveram efeito mais profundo do que as generalizações de M. Quetelet, sobre a regularidade não apenas de questões como a estatura média e as taxas anuais de natalidade e mortalidade, mas também da recorrência, ano após ano, de produtos obscuros e aparentemente incalculáveis da vida nacional, como os números de assassinatos e suicídios, e até mesmo a proporção dos próprios instrumentos utilizados nos crimes. Outros casos notáveis são a regularidade anual de pessoas mortas acidentalmente nas ruas de Londres e de cartas sem destinatário deixadas nas caixas de correio.
Mas, ao examinarmos a cultura das raças inferiores, longe de termos à disposição os dados aritméticos bem medidos da estatística moderna, talvez tenhamos que julgar a condição das tribos a partir dos relatos imperfeitos fornecidos por viajantes ou missionários, ou até raciocinar com base em vestígios de raças pré-históricas cujos nomes e línguas nos são completamente desconhecidos. À primeira vista, esses materiais podem parecer lamentavelmente vagos e pouco promissores para uma investigação científica. Mas, na verdade, não são nem vagos nem pouco promissores – eles fornecem evidências boas e precisas, dentro dos limites do que permitem. São dados que, pela maneira clara com que cada um indica a condição da tribo a que pertence, podem realmente ser comparados com os registros estatísticos. O fato é que uma ponta de flecha de pedra, um porrete entalhado, um ídolo, um túmulo em que escravos e bens foram enterrados para uso dos mortos, um relato dos ritos de um feiticeiro para fazer chover, uma tabela de numerais, a conjugação de um verbo – são elementos que expressam o estado de um povo quanto a um ponto específico de sua cultura, tão verdadeiramente quanto os números tabulados de mortes por envenenamento ou de caixas de chá importadas expressam, de outro modo, outros resultados parciais da vida geral de uma comunidade inteira.
Que uma nação inteira possua um vestuário especial, ferramentas e armas específicas, leis particulares de casamento e propriedade, doutrinas morais e religiosas próprias – isso é um fato notável, que notamos tão pouco justamente porque vivemos no meio dele durante toda a vida. É com essas qualidades gerais dos corpos organizados de seres humanos que a etnografia tem de lidar de modo especial. No entanto, ao generalizar sobre a cultura de uma tribo ou nação, deixando de lado as peculiaridades dos indivíduos que a compõem como irrelevantes para o resultado principal, é preciso ter cuidado para não esquecer o que constitui esse resultado principal. Há pessoas tão focadas na vida individual que não conseguem formar uma noção da ação de uma comunidade como um todo – um observador assim, incapaz de ter uma visão ampla da sociedade, é bem descrito pelo ditado segundo o qual ele “não consegue ver a floresta por causa das árvores”. Mas, por outro lado, o filósofo pode estar tão atento às suas leis gerais da sociedade que negligencia os indivíduos que a compõem – e dele se pode dizer que “não vê as árvores por causa da floresta”.
Sabemos como as artes, os costumes e as ideias são formados entre nós pela ação combinada de muitos indivíduos, cujas motivações e efeitos muitas vezes conseguimos distinguir com clareza. A história de uma invenção, de uma opinião ou de uma cerimônia é uma história de sugestões e modificações, de incentivos e resistências, de ganhos pessoais e preconceitos de grupo – e os indivíduos envolvidos agem segundo suas próprias motivações, determinadas por seu caráter e suas circunstâncias. Assim, às vezes observamos indivíduos agindo em função de seus próprios objetivos, sem pensar muito em seus efeitos sobre a sociedade como um todo; e outras vezes precisamos estudar movimentos da vida nacional como um todo, em que os indivíduos que neles colaboram estão completamente fora do nosso campo de observação. Mas, como a ação social coletiva é apenas o resultado de muitas ações individuais, é evidente que esses dois métodos de investigação, se bem aplicados, devem ser absolutamente coerentes entre si.
Ao estudar tanto a recorrência de certos hábitos ou ideias em diversos territórios quanto sua predominância dentro de cada território, nos deparamos continuamente com provas reiteradas de uma causalidade regular que produz os fenômenos da vida humana e de leis de manutenção e difusão segundo as quais esses fenômenos se estabilizam em condições sociais padrão, em estágios definidos da cultura. Mas, ainda que reconheçamos plenamente a importância das evidências relativas a essas condições padrão da sociedade, tenhamos cuidado com uma armadilha que pode surpreender o estudante desatento. É claro que as opiniões e hábitos comuns a grandes massas humanas são, em grande medida, fruto de um julgamento sólido e de sabedoria prática. Mas, em grande medida, não o são.
O fato de que muitas sociedades numerosas tenham acreditado na influência do mau-olhado e na existência de um firmamento, tenham sacrificado escravos e bens aos fantasmas dos mortos, tenham transmitido tradições de gigantes matando monstros e de homens se transformando em feras – tudo isso é motivo para se admitir que tais ideias foram realmente produzidas na mente humana por causas eficazes, mas não é motivo para se acreditar que os ritos em questão sejam benéficos, que as crenças sejam sensatas, nem que a história seja autêntica. Isso pode parecer à primeira vista um truísmo, mas, na verdade, é a negação de uma falácia que afeta profundamente as mentes de todos, exceto de uma pequena minoria crítica da humanidade. De modo geral, aquilo que todo mundo diz deve ser verdade; aquilo que todo mundo faz deve ser certo – “Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, hoc est vere proprieque Catholicum” – e assim por diante. Existem diversos assuntos – especialmente na história, no direito, na filosofia e na teologia – em que nem mesmo as pessoas instruídas com quem convivemos conseguem facilmente perceber que a razão pela qual os homens sustentam uma opinião ou praticam um costume está longe de ser, por si só, uma razão pela qual deveriam fazê-lo. Como coleções de evidências etnográficas que trazem de maneira tão proeminente à tona o consenso de imensas multidões de homens sobre certas tradições, crenças e usos, são particularmente suscetíveis a serem usadas de forma inadequada na defesa direta dessas instituições em si mesmas, até mesmo antigas nações bárbaras são consultadas para manter suas opiniões contra o que chamam de ideias modernas. Como já me aconteceu mais de uma vez encontrar minhas coleções de tradições e crenças usadas assim para provar sua própria verdade objetiva, sem o devido exame dos fundamentos sobre os quais foram realmente recebidas, aproveito esta oportunidade para observar que a mesma linha de argumento serviria igualmente bem para demonstrar, pelo forte e amplo consentimento das nações, que a Terra é plana, e que a visita de um demônio é um pesadelo.
Tendo sido mostrado que os detalhes da cultura podem ser classificados em um grande número de grupos etnográficos de artes, crenças, costumes e outros, a próxima consideração é até que ponto os fatos organizados nesses grupos são produzidos por evolução uns a partir dos outros. Nem é preciso apontar que os grupos em questão, embora mantidos juntos por um caráter comum, estão longe de serem definidos com precisão. Para retomar a ilustração da história natural, pode-se dizer que são espécies que tendem a se ramificar amplamente em variedades. E quando chega a questão das relações que alguns desses grupos têm com outros, é evidente que o estudioso dos hábitos humanos tem uma grande vantagem sobre o estudioso das espécies de plantas e animais. Entre os naturalistas, ainda é uma questão em aberto se a teoria do desenvolvimento de uma espécie para outra é o registro de transições que realmente ocorreram, ou apenas um esquema ideal útil na classificação de espécies cuja origem foi realmente independente. Mas entre os etnógrafos não há essa dúvida quanto à possibilidade de espécies de instrumentos, hábitos ou crenças se desenvolverem umas a partir das outras, pois o desenvolvimento na cultura é reconhecido pelo nosso conhecimento mais familiar.
A invenção mecânica fornece exemplos adequados do tipo de desenvolvimento que afeta a civilização em geral. Na história das armas de fogo, o pesado “wheel-lock” (gatilho de roda), no qual uma roda de aço dentada girava por meio de uma mola contra um pedaço de pirita até que uma faísca acendesse o pavio, levou à invenção do mais eficiente “flint-lock” (gatilho de pederneira), dos quais alguns ainda pendem nas cozinhas de nossas casas de fazenda para que os meninos atirem em pequenos pássaros no Natal; o “flint-lock”, com o tempo, passou por modificações até virar o “percussion-lock” (gatilho de percussão), que está justamente mudando seu antigo mecanismo para ser adaptado do carregamento pela boca para o carregamento por culatra. O astrolábio medieval evoluiu para o quadrante, agora descartado pelo navegador, que usa o sextante, mais delicado, e assim acontece ao longo da história de uma arte e instrumento após o outro.
Esses exemplos de progressão são conhecidos por nós como história direta, mas essa noção de desenvolvimento está tão firmemente arraigada em nossas mentes que, por meio dela, reconstruímos a história perdida sem hesitar, confiando no conhecimento geral dos princípios do pensamento e da ação humana como guia para colocar os fatos na ordem correta. Quer a crônica fale ou permaneça silenciosa sobre o assunto, ninguém, ao comparar um arco longo e uma besta, duvidaria que a besta foi um desenvolvimento surgido a partir do instrumento mais simples. Assim, entre os fusos para iniciar fogo por fricção, parece claro, à primeira vista, que o fuso acionado por uma corda ou arco é uma melhoria posterior ao instrumento primitivo e mais rudimentar girado entre as mãos. Essa classe instrutiva de espécimes que os antiquários às vezes descobrem, os machados de bronze modelados no tipo pesado do machado de pedra, dificilmente se explicam, exceto como primeiros passos na transição da Idade da Pedra para a Idade do Bronze, a ser seguida logo pela próxima etapa do progresso, na qual se descobre que o novo material se adapta a um modelo mais manejável e menos desperdiçador. E assim, nos outros ramos de nossa história, surgirão repetidamente séries de fatos que podem ser consistentemente organizados como tendo seguido um ao outro numa ordem particular de desenvolvimento, mas que dificilmente suportariam ser invertidos e feitos para seguir na ordem reversa. Tais, por exemplo, são os fatos que aqui apresentei em um capítulo sobre a Arte de Contar, que tendem a provar que, ao menos nesse ponto da cultura, as tribos selvagens alcançaram sua posição por aprendizado e não por desaprendizado, por elevação a partir de um estado inferior, e não por degradação a partir de um estado superior.
Entre as evidências que nos ajudam a traçar o curso que a civilização do mundo realmente seguiu, está aquela grande classe de fatos que achei conveniente denominar sobrevivências. São processos, costumes, opiniões, e assim por diante, que foram mantidos por força do hábito em um novo estado da sociedade, diferente daquele em que tiveram seu lar original, e assim permanecem como provas e exemplos de uma condição cultural mais antiga da qual uma condição mais nova evoluiu. Por exemplo, conheço uma velha senhora de Somersetshire cujo tear manual data da época anterior à introdução do navete voadora, aparelho moderno que ela nunca aprendeu a usar, e já a vi lançar sua navete de uma mão para outra à moda clássica; essa velha senhora não está um século atrasada para sua época, mas é um caso de sobrevivência. Tais exemplos frequentemente nos levam de volta aos hábitos de centenas e até milhares de anos atrás. A prova da Chave e da Bíblia, ainda em uso, é uma sobrevivência; a fogueira do solstício de verão é uma sobrevivência; o jantar dos camponeses bretões no Dia de Finados para os espíritos dos mortos é uma sobrevivência.
A simples manutenção de antigos hábitos é apenas uma parte da transição dos tempos antigos para os novos e em mudança. Os assuntos sérios da sociedade antiga podem ser vistos afundar-se na diversão das gerações posteriores, e suas crenças sérias persistirem no folclore infantil, enquanto hábitos superados da vida do velho mundo podem ser modificados em formas do novo mundo ainda poderosas para o bem e para o mal. Às vezes, pensamentos e práticas antigas irrompem novamente, para o espanto de um mundo que as considerava há muito mortas ou moribundas; aqui a sobrevivência passa para o renascimento, como aconteceu recentemente de maneira tão notável na história do espiritismo moderno, um assunto cheio de ensinamentos do ponto de vista do etnógrafo.
O estudo dos princípios da sobrevivência tem, de fato, uma importância prática não pequena, pois a maior parte do que chamamos superstição está incluída dentro das sobrevivências, e por esse caminho se abre para o ataque de seu inimigo mais mortal, uma explicação razoável. Insignificantes, além disso, como são muitas das fatos de sobrevivência em si mesmos, seu estudo é tão eficaz para traçar o curso do desenvolvimento histórico através do qual só é possível entender seu significado, que isso se torna um ponto vital da pesquisa etnográfica obter a compreensão mais clara possível de sua natureza. Essa importância justifica o detalhe aqui dedicado ao exame da sobrevivência, com base em evidências de jogos, ditados populares, costumes, superstições e afins, que podem bem servir para revelar a maneira de sua operação.
Progresso, degradação, sobrevivência, renascimento, modificação, são todos modos da conexão que une a complexa rede da civilização. Basta um olhar aos detalhes triviais da nossa própria vida diária para nos fazer pensar até que ponto somos realmente seus criadores, e até que ponto somos apenas transmissores e modificadores dos resultados de eras passadas. Olhando ao redor dos cômodos onde vivemos, podemos tentar aqui avaliar o quanto aquele que conhece apenas seu próprio tempo pode ser capaz de compreender corretamente até mesmo isso. Aqui está a madressilva da Assíria, ali a flor-de-lis de Anjou, uma cornija com uma borda grega corre ao redor do teto, o estilo de Luís XIV, e seu ancestral, o Renascimento, compartilham o espelho entre si. Transformados, deslocados ou mutilados, tais elementos de arte ainda carregam claramente estampada sua história; e se a história mais remota é menos fácil de ler, não devemos dizer que, porque não a discernimos claramente, então não há história ali.
Isso acontece até mesmo com a moda das roupas que os homens usam. As pequenas caudas ridículas do casaco do postilhão alemão mostram por si mesmas como vieram a diminuir até tais absurdos rudimentos; mas as golas do clérigo inglês já não transmitem tão claramente sua história ao olhar, e parecem inexplicáveis até que se tenha visto as etapas intermediárias pelas quais desceram das golas largas e mais úteis, como as que Milton usa em seu retrato, e que deram nome à caixa de golas onde costumavam ser guardadas. De fato, os livros de trajes, mostrando como uma peça de roupa cresceu ou encolheu por etapas graduais e passou a outra, ilustram com muita força e clareza a natureza da mudança e crescimento, renascimento e decadência, que ocorrem ano após ano em assuntos mais importantes da vida. Nos livros, novamente, vemos cada escritor não por si e para si, mas ocupando seu lugar próprio na história; olhamos através de cada filósofo, matemático, químico, poeta, para o fundo de sua educação – através de Leibniz para Descartes, através de Dalton para Priestley, através de Milton para Homero. O estudo da língua talvez tenha feito mais do que qualquer outro para remover da nossa visão do pensamento e da ação humana as ideias de acaso e invenção arbitrária, e em substituí-las por uma teoria do desenvolvimento pela cooperação dos indivíduos, através de processos sempre razoáveis e inteligíveis quando os fatos são plenamente conhecidos. Embora a ciência da cultura ainda seja rudimentar, os indícios estão ficando muito fortes de que mesmo o que parecem seus fenômenos mais espontâneos e sem motivo serão, contudo, mostrados como pertencentes ao âmbito de causa e efeito distintos, tão certamente quanto os fatos da mecânica. O que seria popularmente considerado mais indefinido e incontrolável do que os produtos da imaginação em mitos e fábulas? No entanto, qualquer investigação sistemática da mitologia, com base em uma ampla coleção de evidências, mostrará claramente nessas criações da fantasia tanto um desenvolvimento etapa por etapa, quanto a produção de uniformidade de resultado a partir da uniformidade da causa. Aqui, como em outros lugares, a espontaneidade sem causa é vista recuar cada vez mais para abrigo dentro dos obscuros domínios da ignorância; como o acaso, que ainda mantém seu lugar entre os vulgares como uma causa real de eventos de outra forma inexplicáveis, enquanto para os homens instruídos há muito tempo significa conscientemente nada mais do que essa própria ignorância. É apenas quando os homens falham em ver a linha de conexão nos eventos que eles tendem a recorrer às noções de impulsos arbitrários, caprichos sem causa, acaso, absurdo e irresponsabilidade indefinida. Se jogos infantis, costumes sem propósito, superstições absurdas, são classificados como espontâneos porque ninguém pode dizer exatamente como surgiram, essa afirmação pode nos lembrar o efeito semelhante que os hábitos excêntricos da planta do arroz selvagem tiveram sobre a filosofia de uma tribo de índios americanos, que de outra forma tendia a ver na harmonia da natureza os efeitos de uma vontade pessoal controladora. O Grande Espírito, diziam esses teólogos Sioux, fez todas as coisas, exceto o arroz selvagem; mas o arroz selvagem veio por acaso.
“O homem,” disse Wilhelm von Humboldt, “sempre conecta ao que está à mão (der Mensch knüpft immer an Vorhandenes an).” A noção da continuidade da civilização contida nesse princípio não é um mero princípio filosófico estéril, mas se torna imediatamente prática ao considerarmos que aqueles que desejam entender suas próprias vidas devem conhecer as etapas pelas quais suas opiniões e hábitos se tornaram o que são. Auguste Comte dificilmente exagerou a necessidade desse estudo do desenvolvimento quando declarou no início de sua Filosofia Positiva que “nenhum conceito pode ser entendido senão por meio de sua história,” e sua frase pode ser estendida para a cultura em geral. Esperar encarar a vida moderna e compreendê-la apenas pela inspeção direta é uma filosofia cuja fragilidade pode ser facilmente testada. Imagine alguém explicando o ditado trivial “um passarinho me contou” sem conhecer a antiga crença na linguagem dos pássaros e das feras, à qual o Dr. Dasent, na introdução dos Contos Nórdicos, atribui tão razoavelmente sua origem.
Tentativas de explicar pela luz da razão coisas que precisam da luz da história para mostrar seu significado podem ser exemplificadas nos Comentários de Blackstone. Para Blackstone, o direito do camponês de soltar seu animal para pastar na terra comum encontra sua origem e explicação no sistema feudal. “Pois, quando os senhores dos feudos concediam parcelas de terra a arrendatários, por serviços feitos ou a serem feitos, esses arrendatários não podiam arar ou adubar a terra sem animais; esses animais não podiam ser sustentados sem pasto; e o pasto só podia ser obtido nas terras incultas do senhor e nos terrenos em pousio dos próprios arrendatários e de outros arrendatários. A lei, portanto, anexou esse direito comum, como inseparavelmente ligado à concessão das terras; e essa foi a origem do ‘common appendant’,” etc.[2]
Agora, embora não haja nada de irracional nessa explicação, ela não concorda de forma alguma com a lei fundiária teutônica que prevaleceu na Inglaterra muito antes da Conquista Normanda, e cujos vestígios nunca desapareceram completamente. Na antiga comunidade rural, mesmo a terra arável, situada nos grandes campos comuns que ainda podem ser identificados em nosso país, ainda não havia passado para propriedade separada, enquanto o pasto nas terras em pousio e nos restos das colheitas e nas terras incultas pertencia em comum aos moradores da aldeia. Desde aqueles dias, a mudança da propriedade comunal para a individual transformou em grande parte esse sistema do velho mundo, mas o direito que o camponês desfruta de pastar seu gado na terra comum ainda permanece, não como uma concessão aos arrendatários feudais, mas como posse dos moradores comuns antes mesmo de o senhor reivindicar a propriedade das terras incultas. É sempre perigoso desvincular um costume de seu vínculo com eventos passados, tratando-o como um fato isolado a ser simplesmente resolvido por alguma explicação plausível.
No desenvolvimento da grande tarefa da etnografia racional, a investigação das causas que produziram os fenômenos da cultura e das leis às quais eles estão subordinados, é desejável elaborar, da forma mais sistemática possível, um esquema da evolução dessa cultura em suas diversas linhas. No capítulo seguinte, sobre o Desenvolvimento da Cultura, tenta-se esboçar um curso teórico da civilização entre os seres humanos, tal como parece, em geral, mais compatível com as evidências. Comparando os vários estágios da civilização entre as raças conhecidas pela história, com o auxílio de inferências arqueológicas a partir dos vestígios de tribos pré-históricas, parece possível julgar, de maneira aproximada, uma condição geral inicial do homem, que do nosso ponto de vista deve ser considerada uma condição primitiva, qualquer que tenha sido, na realidade, um estado ainda mais antigo que a tenha precedido. Essa condição primitiva hipotética corresponde, em grande medida, à das tribos selvagens modernas que, apesar de sua diferença e distância, têm em comum certos elementos de civilização, que parecem ser vestígios de um estado antigo da raça humana como um todo. Se essa hipótese for verdadeira, então, não obstante a contínua interferência da degeneração, a principal tendência da cultura desde os tempos primordiais até os modernos tem sido da selvageria em direção à civilização.
Sobre o problema dessa relação entre a vida selvagem e a civilizada, quase todos os milhares de fatos discutidos nos capítulos seguintes têm relação direta. A Sobrevivência na Cultura, colocando ao longo do avanço da civilização marcos repletos de significado para aqueles que podem decifrar seus sinais, ainda hoje levanta entre nós monumentos primordiais do pensamento e da vida bárbaros. Sua investigação reforça fortemente a ideia de que o europeu pode encontrar entre os esquimós da Groenlândia ou os maoris muitos traços úteis para reconstruir o retrato de seus próprios ancestrais primitivos.
Segue-se o problema da Origem da Linguagem. Embora muitas partes desse problema ainda permaneçam obscuras, suas posições mais claras estão abertas à investigação sobre se a fala teve origem entre os homens em estado selvagem, e o resultado da pesquisa é que, de acordo com todas as evidências conhecidas, isso pode ter acontecido. A partir do exame da Arte de Contar, surge uma consequência muito mais definida. Pode-se afirmar com confiança que não apenas essa importante arte é encontrada em estado rudimentar entre tribos selvagens, mas que evidências satisfatórias provam que a numeração foi desenvolvida por invenção racional, desde esse estágio baixo até o ponto em que nós mesmos a possuímos.
O exame da Mitologia contido no primeiro volume é, em sua maior parte, realizado a partir de um ponto de vista especial, sobre evidências coletadas para um propósito específico: traçar a relação entre os mitos das tribos selvagens e seus equivalentes entre nações mais civilizadas. O resultado dessa investigação comprova amplamente que o mais antigo criador de mitos surgiu e floresceu entre hordas selvagens, dando início a uma arte que seus sucessores mais cultos continuariam, até que seus resultados se fossilizassem em superstição, fossem confundidos com história, moldados e vestidos em poesia, ou descartados como tolice absurda.
Talvez em nenhum outro campo sejam mais necessárias visões amplas do desenvolvimento histórico do que no estudo da religião. Apesar de tudo o que já foi escrito para familiarizar o mundo com as teologias inferiores, as ideias populares sobre o lugar delas na história e sua relação com as crenças das nações superiores ainda são do tipo medieval. É impressionante contrastar alguns jornais missionários com os Ensaios de Max Müller, e notar o ódio e ridículo desprezo que o zelo estreito e hostil despeja sobre o bramanismo, o budismo, o zoroastrismo, em comparação com a simpatia católica com que o conhecimento profundo e amplo pode contemplar aquelas fases antigas e nobres da consciência religiosa humana; nem, pelo fato de que as religiões das tribos selvagens podem ser rudimentares e primitivas em comparação com os grandes sistemas asiáticos, elas ficam abaixo do interesse e até do respeito. A questão realmente reside entre compreendê-las ou mal compreendê-las. Poucos, entre aqueles que dedicarem a mente a dominar os princípios gerais da religião selvagem, voltarão a considerá-la ridícula ou seu conhecimento supérfluo para o restante da humanidade. Longe de suas crenças e práticas serem um amontoado de tolices diversas, elas são consistentes e lógicas em um grau tão elevado que, assim que mesmo grosseiramente classificadas, começam a revelar os princípios de sua formação e desenvolvimento; e esses princípios mostram-se essencialmente racionais, ainda que operem em uma condição mental de ignorância intensa e inveterada.
É com a sensação de estar realizando uma investigação que se relaciona muito diretamente com a teologia atual que me propus a examinar sistematicamente, entre as raças inferiores, o desenvolvimento do animismo; isto é, a doutrina das almas e outros seres espirituais em geral. Mais da metade desta obra é ocupada por uma vasta massa de evidências de todas as regiões do mundo, mostrando a natureza e o significado desse grande elemento da Filosofia da Religião, e traçando sua transmissão, expansão, restrição e modificação ao longo da história até o nosso pensamento moderno. Também não são de pouca importância prática as questões que surgem numa tentativa similar de traçar o desenvolvimento de certos Ritos e Cerimônias proeminentes – costumes tão ricos em ensinamentos sobre os poderes mais íntimos da religião, dos quais são expressão externa e resultado prático.
Nessas investigações, porém, feitas mais do ponto de vista etnográfico do que teológico, pareceu pouco necessário entrar em argumentos controversos diretos, os quais me empenhei em evitar tanto quanto possível. A conexão que atravessa a religião, desde suas formas mais rudimentares até o estágio de um cristianismo esclarecido, pode ser convenientemente tratada com pouca necessidade de recorrer à teologia dogmática. Os ritos de sacrifício e purificação podem ser estudados em suas fases de desenvolvimento sem entrar em questões sobre sua autoridade e valor, assim como o exame das fases sucessivas da crença mundial na vida futura não exige discussão dos argumentos apresentados a favor ou contra a doutrina em si. Os resultados etnográficos podem então ser deixados como materiais para teólogos profissionais, e talvez não demore até que evidências tão carregadas de significado ocupem seu lugar legítimo.
Voltando à analogia com a história natural, pode chegar o momento em que será considerado tão irrazoável para um estudioso científico da teologia não possuir conhecimento competente dos princípios das religiões das raças inferiores quanto para um fisiologista desprezar, com o desprezo dos séculos passados, evidências derivadas das formas inferiores de vida, considerando a estrutura de meras criaturas invertebradas como assunto indigno de seu estudo filosófico.
Não apenas como uma questão de pesquisa curiosa, mas como um importante guia prático para a compreensão do presente e a formação do futuro, a investigação sobre a origem e o desenvolvimento inicial da civilização deve ser conduzida com zelo. Toda via possível de conhecimento deve ser explorada, toda porta deve ser testada para ver se está aberta. Nenhum tipo de evidência precisa ser deixado de lado por causa de sua distância ou complexidade, por sua minúcia ou trivialidade. A tendência da investigação moderna é cada vez mais a conclusão de que, se a lei existe em algum lugar, ela está em toda parte. Desistir do que uma coleta e estudo conscienciosos de fatos podem levar, e declarar qualquer problema insolúvel por ser difícil e distante, é claramente estar do lado errado na ciência; e aquele que escolhe uma tarefa sem esperança pode se empenhar em descobrir os limites da descoberta.
Lembra-se de Comte começando seu relato sobre astronomia com uma observação sobre a limitação necessária do nosso conhecimento das estrelas: concebemos, ele nos diz, a possibilidade de determinar sua forma, distância, tamanho e movimento, enquanto nunca seríamos capazes, por qualquer método, de estudar sua composição química, sua estrutura mineralógica, etc. Se o filósofo tivesse vivido para ver a aplicação da análise espectral a esse mesmo problema, sua proclamação da doutrina desanimadora da ignorância necessária talvez tivesse sido retratada em favor de uma visão mais esperançosa. E parece que a filosofia da vida humana remota é um pouco como o estudo da natureza dos corpos celestes. Os processos a serem compreendidos nos estágios iniciais de nossa evolução mental estão distantes de nós no tempo assim como as estrelas estão distantes de nós no espaço, mas as leis do universo não se limitam à observação direta de nossos sentidos. Há vasto material a ser utilizado em nossa investigação; muitos pesquisadores estão agora ocupados em dar forma a esse material, embora pouco tenha sido feito em proporção ao que ainda resta fazer; e já parece não ser exagero dizer que os contornos vagos de uma filosofia da história primitiva começam a surgir em nossa visão.
II. O desenvolvimento da cultura
Ao assumir o problema do desenvolvimento da cultura como um ramo da pesquisa etnológica, um primeiro procedimento é obter um meio de mensuração. Buscando algo como uma linha definitiva ao longo da qual possamos calcular o progresso e o retrocesso na civilização, aparentemente podemos encontrá-la na classificação de tribos e nações reais, passadas e presentes. Com a civilização realmente existente entre os homens em diferentes graus, somos capazes de estimá-la e compará-la por exemplos concretos. O mundo educado da Europa e América praticamente estabelece um padrão simplesmente colocando suas próprias nações em uma extremidade da série social e as tribos selvagens na outra, organizando o restante da humanidade entre esses limites conforme correspondam mais de perto à vida selvagem ou à vida culta. Os principais critérios de classificação são a ausência ou presença, desenvolvimento alto ou baixo, das artes industriais, especialmente o trabalho com metal, fabricação de instrumentos e vasos, agricultura, arquitetura, etc., a extensão do conhecimento científico, a definição dos princípios morais, a condição da crença e cerimônia religiosa, o grau de organização social e política, e assim por diante. Assim, com base definitiva em fatos comparados, os etnógrafos são capazes de estabelecer pelo menos uma escala aproximada de civilização.
Poucos contestariam que as seguintes raças estão corretamente ordenadas na sequência cultural: australiana, taitiana, asteca, chinesa, italiana. Ao tratar o desenvolvimento da civilização nessa base etnográfica simples, muitas dificuldades podem ser evitadas, as quais têm embaraçado sua discussão. Isso pode ser visto com um olhar à relação que os princípios teóricos da civilização mantêm com as transições que se observam, como fato, entre os extremos da vida selvagem e culta.
De um ponto de vista ideal, a civilização pode ser vista como a melhoria geral da humanidade pela organização superior do indivíduo e da sociedade, com o fim de promover ao mesmo tempo a bondade, o poder e a felicidade do homem. Essa civilização teórica corresponde em grande medida à civilização real, como traçada pela comparação entre selvageria e barbárie, e barbárie e vida moderna educada. Na medida em que levamos em conta apenas a cultura material e intelectual, isso é especialmente verdadeiro. O conhecimento das leis físicas do mundo, e o poder correspondente de adaptar a natureza aos próprios fins do homem, estão, no geral, no nível mais baixo entre os selvagens, médio entre os bárbaros e mais alto entre as nações modernas educadas. Assim, a transição do estado selvagem para o nosso seria, na prática, esse próprio progresso da arte e do conhecimento, que é um dos principais elementos no desenvolvimento da cultura.
Mas mesmo aqueles estudiosos que defendem com mais força que o curso geral da civilização, medido na escala das raças desde os selvagens até nós mesmos, é um progresso em benefício da humanidade, devem admitir muitas e variadas exceções. A cultura industrial e intelectual de modo algum avança uniformemente em todos os seus ramos, e, de fato, a excelência em vários de seus detalhes é frequentemente alcançada em condições que retardam a cultura como um todo. É verdade que essas exceções raramente suplantam a regra geral; e o inglês, admitindo que não sobe em árvores como o australiano selvagem, nem caça como o selvagem da floresta brasileira, nem compete com o antigo etrusco e o moderno chinês na delicadeza do trabalho em ourivesaria e entalhe em marfim, nem alcança o nível clássico grego de oratória e escultura, ainda assim pode reivindicar para si uma condição geral acima de qualquer uma dessas raças. Mas, de fato, devem ser levados em conta desenvolvimentos da ciência e da arte que tendem diretamente contra a cultura. Ter aprendido a aplicar veneno secretamente e com eficácia, ter elevado uma literatura corrupta a uma perfeição pestilenta, ter organizado um esquema bem-sucedido para impedir a livre investigação e proibir a livre expressão, são obras de conhecimento e habilidade cujo progresso em direção ao seu objetivo dificilmente contribuiu para o bem geral. Assim, mesmo ao comparar a cultura mental e artística entre vários povos, o equilíbrio entre o bem e o mal não é nada fácil de estabelecer.
Se não apenas o conhecimento e a arte, mas ao mesmo tempo a excelência moral e política forem levados em consideração, torna-se ainda mais difícil estabelecer numa escala ideal o avanço ou declínio de estágio em estágio da cultura. De fato, uma medida combinada da condição humana, intelectual e moral, é um instrumento que nenhum estudioso até agora aprendeu a manejar adequadamente. Mesmo admitindo que a vida intelectual, moral e política possa, numa visão ampla, ser vista como progresso conjunto, é óbvio que elas estão longe de avançar em passos iguais. Pode-se considerar como regra do dever humano no mundo que ele deva esforçar-se para conhecer o melhor que puder descobrir, e para agir da melhor forma que souber. Mas a separação desses dois grandes princípios, essa cisão entre inteligência e virtude que explica grande parte das ações erradas da humanidade, é continuamente observada nos grandes movimentos da civilização. Como um exemplo notório do que toda a história prova, se estudarmos as primeiras eras do Cristianismo, poderemos ver homens com mentes permeadas pela nova religião do dever, da santidade e do amor, mas ao mesmo tempo efetivamente regredindo na vida intelectual, assim abraçando vigorosamente uma metade da civilização e desprezando a outra.
Seja nas esferas mais elevadas ou nas mais baixas da vida humana, pode-se ver que o avanço da cultura raramente resulta de imediato em bem puro. Coragem, honestidade, generosidade são virtudes que podem sofrer, ao menos por um tempo, com o desenvolvimento do senso de valor da vida e da propriedade. O selvagem que adota algo da civilização estrangeira muitas vezes perde suas virtudes mais rudes sem ganhar um equivalente. O invasor branco ou colonizador, embora represente, no geral, um padrão moral mais elevado que o selvagem que melhora ou destrói, frequentemente representa muito mal seu padrão e, no melhor dos casos, dificilmente pode reivindicar substituir uma vida mais forte, nobre e pura em todos os aspectos daquela que ele suprime. O movimento para frente desde a barbárie abandonou mais de uma qualidade do caráter bárbaro que os homens modernos cultos olham com pesar e até tentarão recuperar por meio de tentativas fúteis de deter o curso da história e restaurar o passado em meio ao presente.
Assim é com as instituições sociais. A escravidão reconhecida por raças selvagens e bárbaras é preferível em tipo àquela que existiu por séculos nas colônias europeias tardias. A relação entre os sexos em muitas tribos selvagens é mais saudável do que entre as classes mais ricas do mundo muçulmano. Como autoridade suprema de governo, os conselhos selvagens de chefes e anciãos se comparam favoravelmente ao despotismo desenfreado sob o qual tantas raças cultas têm sofrido. Os índios Creek, quando questionados sobre sua religião, responderam que onde não houvesse acordo, era melhor “deixar cada homem remar sua canoa do seu próprio jeito”; e depois de longas eras de conflito teológico e perseguição, o mundo moderno parece estar começando a achar que esses selvagens não estavam tão errados assim.
Entre relatos da vida selvagem, não é incomum encontrar detalhes de excelência moral e social admirável. Para tomar um exemplo destacado, o tenente Bruijn Kops e o senhor Wallace descreveram, entre os rudes papuas do Arquipélago Oriental, uma habitual veracidade, retidão e gentileza que seria difícil igualar na vida moral geral da Pérsia ou da Índia, para não falar de muitos distritos europeus civilizados.[3] Essas tribos podem ser consideradas os “etíopes irrepreensíveis” do mundo moderno, e delas pode ser aprendida uma importante lição. Os etnógrafos que buscam nos selvagens modernos tipos da antiga raça humana em geral são obrigados, por exemplos como esses, a considerar que a vida rude do homem primitivo, sob condições favoráveis, tenha sido, em certa medida, uma vida boa e feliz. Por outro lado, as imagens pintadas por alguns viajantes da selvageria como uma espécie de estado paradisíaco podem ter sido tiradas de forma muito exclusiva do lado mais iluminado. Observa-se, a respeito desses mesmos papuas, que os europeus cujo contato com eles foi hostil ficam tão impressionados com a astúcia selvagem de seus ataques, quase como se fossem animais ferozes, que dificilmente acreditam que eles tenham sentimentos em comum com os homens civilizados. Nossos exploradores polares podem muito bem falar em termos gentis sobre a indústria, a honestidade, a polidez alegre e atenciosa dos esquimós; mas é preciso lembrar que essas pessoas rudes estão no seu melhor comportamento com os estrangeiros, e que seu caráter tende a ser sujo e brutal onde não têm nada a esperar ou temer. Os caribes são descritos como uma raça alegre, modesta e cortês, e tão honestos entre si que, se algo desaparecesse de uma casa, diziam naturalmente: “Aqui esteve um cristão.” Contudo, a ferocidade maligna com que essas pessoas estimáveis torturavam seus prisioneiros de guerra com faca, ferro em brasa e pimenta vermelha, para depois cozinhá-los e comê-los em uma orgia solene, deu razão justa para que o nome Carib (Canibal) se tornasse o nome genérico de comedor de homens nas línguas europeias.[4] Assim, quando lemos descrições da hospitalidade, da gentileza, da coragem e do profundo sentimento religioso dos índios norte-americanos, admitimos suas reivindicações à nossa sincera admiração; mas não devemos esquecer que eles eram hospitaleiros literalmente até demais, que sua gentileza podia se transformar num lampejo de raiva em frenesi, que sua coragem estava manchada por uma maldade cruel e traiçoeira, e que sua religião se expressava em crenças absurdas e cerimônias inúteis. O selvagem ideal do século XVIII pode ser usado como uma repreensão viva ao vicioso e frívolo londrino; mas, na realidade sóbria, um londrino que tentasse levar a vida atroz que o selvagem real pode levar impunemente e até com respeito, seria um criminoso que só poderia seguir seus modelos selvagens durante os curtos intervalos fora da prisão. Os padrões morais dos selvagens são reais, mas muito mais frouxos e frágeis do que os nossos. Creio que podemos aplicar a comparação frequentemente repetida dos selvagens a crianças tanto para sua condição moral quanto para a intelectual. A melhor vida social selvagem parece estar em equilíbrio instável, sujeita a ser facilmente perturbada por um toque de sofrimento, tentação ou violência, e então torna-se a vida selvagem pior, que conhecemos por tantos exemplos sombrios e horríveis.
No geral, pode-se admitir que algumas tribos rudes levam uma vida invejável para algumas raças bárbaras, e até mesmo para os excluídos de nações mais elevadas. Mas que qualquer tribo selvagem conhecida não melhoraria com uma civilização judiciosa é uma proposição que nenhum moralista ousaria fazer; enquanto o conjunto das evidências justifica amplamente a visão de que, no geral, o homem civilizado não é apenas mais sábio e capaz que o selvagem, mas também melhor e mais feliz, e que o bárbaro está no meio-termo.
Poderia parecer viável comparar a média total da civilização de dois povos, ou do mesmo povo em épocas diferentes, calculando item por item uma espécie de somatório e fazendo um balanço entre eles, da mesma forma que um avaliador compara o valor de dois estoques de mercadorias, por mais que possam diferir em quantidade e qualidade. Mas as poucas observações feitas aqui terão mostrado quão imprecisa deve ser a elaboração desses cálculos grosseiros e práticos sobre a cultura. De fato, grande parte do esforço empregado na investigação do progresso e declínio da civilização foi mal aproveitada, em tentativas prematuras de tratar como um todo aquilo que ainda só é suscetível de estudo dividido. O presente argumento relativamente restrito sobre o desenvolvimento da cultura, ao menos, evita essa maior perplexidade. Ele toma em consideração principalmente o conhecimento, a arte e o costume, e de fato apenas de forma muito parcial dentro desse campo, deixando praticamente intocada a vasta gama de considerações físicas, políticas, sociais e éticas. Seu padrão para medir progresso e declínio não é o do bem e do mal ideais, mas o do movimento ao longo de uma linha medida, de grau a grau de selvageria, barbárie e civilização reais. A tese que me arrisco a sustentar, dentro de limites, é simplesmente esta: que o estado selvagem representa, em certa medida, uma condição inicial da humanidade, da qual a cultura superior foi gradualmente desenvolvida ou evoluída, por processos ainda em funcionamento regulares como antigamente, cujo resultado mostra que, no geral, o progresso prevaleceu muito mais que o retrocesso.
Sobre essa proposição, a principal tendência da sociedade humana durante seu longo período de existência tem sido passar de um estado selvagem para um estado civilizado. Agora, todos devem admitir que grande parte dessa afirmação é não apenas verdadeira, mas um truísmo. Referida à história direta, uma grande parte dela prova pertencer não ao domínio da especulação, mas ao do conhecimento positivo. É mera questão de crônica que a civilização moderna é um desenvolvimento da civilização medieval, que, por sua vez, é um desenvolvimento da civilização do tipo representado na Grécia, Assíria ou Egito. Assim, a cultura superior sendo claramente rastreada até o que pode ser chamado de cultura intermediária, a questão que resta é se essa cultura intermediária pode ser rastreada até a cultura inferior, isto é, até a selvageria. Afirmar isso é simplesmente declarar que o mesmo tipo de desenvolvimento cultural que ocorreu dentro do nosso alcance de conhecimento também ocorreu fora dele, seu curso procedendo independentemente de termos ou não observadores presentes. Se alguém sustenta que o pensamento e a ação humanos foram desenvolvidos nos tempos primordiais segundo leis essencialmente diferentes das do mundo moderno, cabe a ele provar com evidências válidas essa condição anômala, caso contrário, a doutrina do princípio permanente se manterá válida, assim como na astronomia ou geologia. Que a tendência da cultura tenha sido semelhante durante toda a existência da sociedade humana, e que possamos julgar com justiça pelo seu curso histórico conhecido qual pode ter sido seu curso pré-histórico, é uma teoria claramente merecedora de precedência como princípio fundamental da pesquisa etnográfica.
Gibbon, em sua obra Império Romano, expressa em poucas e vigorosas frases sua teoria sobre o curso da cultura, como algo que vai da selvageria para cima. Julgados à luz do conhecimento de quase um século posterior, seus comentários, de fato, não podem passar sem questionamento. Especialmente, ele parece confiar com excessiva segurança em tradições de rudeza arcaica, exagerar a precariedade da vida selvagem, subestimar a propensão à decadência das artes mais rudimentares e, em sua visão sobre o efeito da civilização elevada sobre a inferior, dar atenção excessiva apenas ao lado positivo. Mas, no geral, o julgamento do grande historiador parece corresponder substancialmente ao do estudante moderno e imparcial da escola progressista, de modo que transcrevo com prazer o trecho em sua íntegra, tomando-o como texto representativo da teoria do desenvolvimento da cultura: –
“As descobertas dos navegadores antigos e modernos, bem como a história doméstica, ou tradição, das nações mais esclarecidas, representam o selvagem humano nu tanto de mente quanto de corpo, e desprovido de leis, de artes, de ideias e quase de linguagem. A partir dessa condição abjeta, talvez o estado primitivo e universal do homem, ele gradualmente se elevou até dominar os animais, fertilizar a terra, atravessar os oceanos e medir os céus. Seu progresso no aprimoramento e exercício de suas faculdades mentais e corporais foi irregular e variado; infinitamente lento no início, e aumentando pouco a pouco com velocidade redobrada: séculos de ascensão laboriosa foram seguidos por um momento de queda rápida; e os diversos climas do globo sentiram as vicissitudes de luz e trevas. No entanto, a experiência de quatro mil anos deveria ampliar nossas esperanças e diminuir nossos temores: não podemos determinar a que altura a espécie humana pode aspirar em sua marcha rumo à perfeição; mas pode-se presumir com segurança que nenhum povo, a menos que a face da natureza mude, recairá em sua barbárie original.
Os aprimoramentos da sociedade podem ser vistos sob um triplo aspecto. 1. O poeta ou filósofo ilustra sua época e sua pátria com os esforços de uma mente singular; mas esses poderes superiores de razão ou imaginação são produções raras e espontâneas; e o gênio de Homero, Cícero ou Newton despertaria menos admiração se pudesse ser criado pela vontade de um príncipe ou pelas lições de um preceptor. 2. Os benefícios da lei e da política, do comércio e das manufaturas, das artes e das ciências, são mais sólidos e permanentes; e muitos indivíduos podem ser qualificados, por meio da educação e da disciplina, para promover, em suas respectivas funções, o interesse da comunidade. Mas essa ordem geral é fruto de habilidade e trabalho; e a engrenagem complexa pode deteriorar-se com o tempo ou ser danificada pela violência. 3. Felizmente para a humanidade, as artes mais úteis ou, ao menos, mais necessárias, podem ser realizadas sem talentos superiores ou subordinação nacional; sem o poder de um só, ou a união de muitos. Cada aldeia, cada família, cada indivíduo, deve sempre possuir tanto a capacidade quanto a inclinação para perpetuar o uso do fogo e dos metais; a reprodução e o manejo dos animais domésticos; os métodos de caça e pesca; os rudimentos da navegação; o cultivo rudimentar do trigo ou de outro grão nutritivo; e a prática simples dos ofícios mecânicos. O gênio particular e a indústria pública podem ser extirpados; mas essas plantas resistentes sobrevivem à tempestade e lançam raízes eternas mesmo no solo mais desfavorável.
Os dias esplêndidos de Augusto e Trajano foram eclipsados por uma nuvem de ignorância; e os bárbaros subverteram as leis e os palácios de Roma. Mas a foice – invenção ou emblema de Saturno – continuou anualmente a ceifar as colheitas da Itália; e os banquetes humanos dos Lestrigões jamais foram renovados na costa da Campânia. Desde a primeira descoberta das artes, a guerra, o comércio e o zelo religioso difundiram, entre os selvagens do Velho e do Novo Mundo, esses dons inestimáveis: eles foram sucessivamente propagados; jamais poderão ser perdidos. Podemos, portanto, aquiescer à conclusão alentadora de que cada época do mundo aumentou – e ainda aumenta – a riqueza real, a felicidade, o conhecimento e, talvez, a virtude da raça humana.”[5]
Essa teoria da progressão da civilização pode ser contrastada com sua rival, a teoria da degeneração, por meio da impetuosa invectiva do conde Joseph de Maistre, escrita no início do século XIX. “Nós partimos sempre”, diz ele, “da hipótese banal de que o homem se elevou gradualmente da barbárie à ciência e à civilização. É o sonho predileto, é o erro-mãe, e como diz a escola, o proto-pseudes do nosso século. Mas se os filósofos deste século infeliz, com a horrível perversidade que lhes conhecemos, e que ainda persiste apesar dos avisos que receberam, tivessem possuído, além disso, alguns desses conhecimentos que necessariamente pertenceram aos primeiros homens, &c.”[6]
A teoria da degeneração, que esse eloquente adversário das “ideias modernas” apresenta, de fato, em sua forma extrema, recebeu o apoio de homens de grande erudição e capacidade. Ela se resumiu, na prática, a duas suposições: primeiro, que a história da cultura começou com o surgimento, na Terra, de uma raça de homens semicivilizados; e segundo, que a partir desse estágio, a cultura seguiu dois caminhos – regredindo para produzir os selvagens e avançando para produzir os homens civilizados.
A ideia de que a condição original do homem era de uma cultura mais ou menos elevada deve ter certa proeminência devido à forte influência que exerce sobre a opinião pública. No entanto, quanto a evidências concretas, tal ideia não parece possuir qualquer base etnológica. Na verdade, mal consigo imaginar um argumento mais eficaz contra um estudante inteligente inclinado à teoria da degeneração tradicional do que levá-lo a examinar, de maneira crítica e imparcial, os argumentos dos defensores de sua própria posição.
Deve-se ter em mente, contudo, que os fundamentos sobre os quais essa teoria tem sido sustentada são, em geral, mais teológicos do que etnológicos. A força da posição que ela ocupou pode ser bem exemplificada pelas teorias adotadas por dois eminentes autores franceses do século XVIII, que, de maneira notável, combinam a crença na degeneração com argumentos a favor da progressão.
De Brosses, cuja natureza intelectual se inclinava inteiramente para a teoria da progressão, argumentava que, ao estudar o que realmente acontece no presente, “podemos traçar a elevação dos homens a partir do estado selvagem ao qual o dilúvio e a dispersão os haviam reduzido.”[7] E Goguet, ao sustentar que as artes pré-existentes pereceram no dilúvio, ficou assim livre para desenvolver, com base nos princípios mais radicais do progressismo, suas teorias sobre a invenção do fogo, do cozimento, da agricultura, do direito, e assim por diante, entre tribos reduzidas a um estado de selvageria inferior.[8]
Na atualidade, não é incomum que a origem da civilização seja tratada como uma questão de teologia dogmática. Aconteceu comigo mais de uma vez de ouvir, do púlpito, a afirmação de que as teorias dos etnólogos que consideram que o homem se elevou a partir de uma condição primitiva inferior são fantasias ilusórias, sendo uma verdade revelada que o homem se encontrava originalmente em condição elevada. Ora, do ponto de vista da crítica bíblica, deve-se lembrar que uma grande parte dos teólogos modernos está longe de aceitar tal dogma. Mas, ao investigar o problema da civilização primitiva, a pretensão de fundamentar uma opinião científica numa base revelada é, em si mesma, condenável. Seria, a meu ver, injustificável que estudantes que já testemunharam, na Astronomia e na Geologia, os tristes resultados das tentativas de basear a ciência na religião, viessem a apoiar tentativa semelhante no campo da Etnologia.
Pela longa experiência com o curso da sociedade humana, o princípio do desenvolvimento cultural tornou-se tão enraizado em nossa filosofia que os etnólogos, de qualquer escola que sejam, dificilmente duvidam de que, seja por progresso ou por degradação, a selvageria e a civilização estejam ligadas como estágios inferiores e superiores de uma mesma formação. Como tal, então, duas teorias principais procuram explicar essa relação.
Quanto à primeira hipótese, que considera a vida selvagem como uma forma de representação de um estado humano primitivo do qual, com o tempo, se desenvolveram estados superiores, deve-se observar que os defensores dessa teoria da progressão tendem a olhar ainda mais para trás, em direção a condições originais ainda mais rudimentares da humanidade. Já se observou com razão que a doutrina moderna do naturalista sobre o desenvolvimento progressivo incentivou uma linha de pensamento notavelmente condizente com a teoria epicurista da existência primitiva do homem na Terra – uma condição pouco distinta da dos animais inferiores.
Nessa perspectiva, a própria vida selvagem seria uma condição já bastante avançada. Se se considerar que o avanço da cultura ocorre ao longo de uma linha geral única, então a selvageria existente estaria situada diretamente entre a vida animal e a vida civilizada; se, por outro lado, o avanço ocorrer ao longo de diferentes linhas, então a selvageria e a civilização podem ser consideradas pelo menos indiretamente conectadas por uma origem comum.
O método e as evidências aqui empregados, contudo, não são adequados para discutir essa parte mais remota do problema da civilização. Tampouco é necessário investigar como, sob essa ou qualquer outra teoria, o estado selvagem teria surgido na Terra. Basta que, de algum modo, ele de fato tenha surgido; e, na medida em que possa servir de guia para inferir uma condição primitiva da humanidade em geral, o argumento assume uma forma bastante prática, ao se basear mais em estados sociais reais do que em estados imaginários.
A segunda hipótese, que considera a cultura superior como original e o estado selvagem como resultante dela por um processo de degeneração, corta de imediato o nó difícil da origem da cultura. Parte do princípio de uma interferência sobrenatural, como no caso do arcebispo Whately, que simplesmente atribui à revelação milagrosa aquela condição acima do nível da barbárie que ele considera ter sido o estado original do homem.[9]
Pode-se observar, incidentalmente, que a doutrina da civilização original concedida ao homem por intervenção divina não implica, necessariamente, que essa civilização original estivesse em um nível elevado. Seus defensores são livres para escolher o ponto de partida da cultura – acima, no mesmo nível ou abaixo da condição selvagem – conforme o que lhes parecer mais razoável com base nas evidências.
As duas teorias que assim explicam a relação entre a vida selvagem e a vida civilizada podem ser contrastadas, segundo seu caráter principal, como teoria da progressão e teoria da degeneração. No entanto, é claro que a teoria da progressão reconhece a degeneração, e a teoria da degeneração reconhece a progressão, como influências poderosas no curso da cultura.
Dentro dos devidos limites, os princípios de ambas as teorias são compatíveis com o conhecimento histórico, que nos mostra, por um lado, que o estado das nações mais avançadas foi alcançado por progressão a partir de um estado inferior, e, por outro lado, que a cultura conquistada por progresso pode ser perdida por degeneração.
Se nessa investigação formos obrigados a terminar na escuridão, ao menos não precisamos começar nela. A história, tomada como nosso guia na explicação dos diferentes estágios da civilização, oferece uma teoria baseada na experiência real. Trata-se de uma teoria do desenvolvimento, na qual tanto o avanço quanto o retrocesso têm seus lugares reconhecidos. Mas, na medida em que a história for nosso critério, a progressão é primária e a degeneração, secundária; a cultura precisa ser conquistada antes que possa ser perdida. Além disso, ao se avaliar o equilíbrio entre os efeitos do avanço e do retrocesso na civilização, é preciso ter em mente quão poderosamente a difusão da cultura atua na preservação dos resultados do progresso contra os ataques da degeneração. Um movimento progressivo na cultura se espalha e torna-se independente do destino de seus originadores. Aquilo que é produzido em uma região limitada difunde-se por uma área cada vez mais ampla, onde o processo de aniquilação completa se torna cada vez mais difícil. Assim, é até possível que os hábitos e invenções de raças há muito extintas permaneçam como patrimônio comum das nações sobreviventes; e as ações destrutivas que causam estragos nas civilizações de regiões específicas não conseguem destruir a civilização do mundo como um todo.
A investigação sobre a relação entre a selvageria, a barbárie e a semicivilização situa-se quase inteiramente em regiões pré-históricas ou extrahistóricas. Essa é, evidentemente, uma condição desfavorável, e deve ser aceita com franqueza. A história direta mal nos diz algo sobre as transformações da cultura selvagem, exceto quando em contato com a civilização estrangeira e sob sua influência dominante – situação que pouco contribui para o nosso objetivo atual.
Exames periódicos de povos de cultura inferior, deixados de outro modo isolados para seguir seus próprios caminhos, seriam testemunhos interessantes para o estudioso da civilização, se pudessem ser realizados – mas, infelizmente, não podem. As raças inferiores, desprovidas de registros documentais, descuidadas na preservação da tradição e sempre prontas a revestir o mito com aparência de história, raramente são fontes confiáveis quando contam histórias de tempos muito remotos.
A história consiste em registros orais ou escritos que podem ser satisfatoriamente rastreados até o contato com os eventos que descrevem; e talvez nenhum relato do curso da cultura em seus estágios inferiores consiga satisfazer esse critério rigoroso.
As tradições podem ser invocadas tanto em apoio à teoria da progressão quanto à teoria da degeneração. Essas tradições podem ser em parte verdadeiras, e devem ser em parte falsas; mas, qualquer que seja o grau de verdade ou falsidade que contenham, há tanta dificuldade em separar a lembrança do que foi da especulação sobre o que poderia ter sido, que a etnologia dificilmente terá muito a ganhar com tentativas de julgar os estágios iniciais da civilização com base em tradições.
Esse é um problema que ocupou a mente filosófica até mesmo entre os povos selvagens e bárbaros, e que tem sido “resolvido” por meio de especulações apresentadas como fatos, e por tradições que são, em grande parte, teorias transformadas em narrativa.
Os chineses podem apresentar, com toda a devida solenidade, os registros de suas antigas dinastias e nos contar como, nos tempos antigos, seus antepassados habitavam cavernas, vestiam-se com folhas e comiam carne crua, até que, sob este ou aquele governante, aprenderam a construir cabanas, preparar peles para o vestuário e fazer fogo.[10]
Lucrécio pode descrever, em seus famosos versos, a raça primitiva de homens – de ossos largos, resistentes, indomáveis – vivendo uma vida errante como os animais selvagens que venciam com pedras e porretes pesados, alimentando-se de bagas e bolotas, ignorando ainda o fogo, a agricultura e o uso de peles como vestuário. A partir desse estado, o poeta epicurista traça o desenvolvimento da cultura, começando fora, mas terminando dentro dos limites da memória humana.[11]
Pertencem à mesma categoria aquelas lendas que, partindo de um estado selvagem antigo, descrevem sua elevação por civilizadores divinos: esta, que se pode chamar de teoria da progressão sobrenatural, é exemplificada nas conhecidas tradições culturais do Peru e da Itália.
Mas outras mentes, seguindo uma trilha ideal diferente, que vai do presente ao passado, viram os primeiros estágios da vida humana sob uma forma muito distinta. Aqueles homens cujos olhos estão sempre voltados para a sabedoria dos antigos, aqueles que, por uma confusão comum de pensamento, atribuem aos homens de outrora a sabedoria dos velhos, aqueles que se apegam a algum modelo de vida outrora honrado, mas agora ultrapassado por novos modelos que surgem diante de seus olhos – esses tendem a projetar sua visão do presente como um tempo de degeneração para épocas muito remotas, até chegarem a um período de glória primordial.
O parsi volta-se para o feliz reinado do rei Yima, quando homens e animais eram imortais, quando as águas e as árvores jamais secavam e os alimentos eram inesgotáveis, quando não havia nem frio nem calor, nem inveja nem velhice.[12]
O budista olha para a era dos gloriosos seres alados, que não conheciam pecado, nem sexo, nem necessidade de alimento – até que, na hora infeliz em que provaram de uma espuma deliciosa que se formava na superfície da terra, caíram no mal e, com o tempo, degradaram-se a comer arroz, a gerar filhos, a construir casas, a dividir propriedades e a instituir castas.
Nas eras seguintes, registros preservaram os detalhes do contínuo processo de degeneração. Foi o rei Chetiya quem contou a primeira mentira, e os cidadãos que a ouviram, sem saber o que era uma mentira, perguntaram se ela era branca, preta ou azul. A vida dos homens foi se encurtando cada vez mais, e foi o rei Maha Sâgara quem, após um breve reinado de 252.000 anos, fez a sombria descoberta do primeiro fio de cabelo grisalho.[13]
Reconhecendo a imperfeição dos registros históricos no que se refere aos estágios mais baixos da cultura, devemos lembrar que essa imperfeição pode ser interpretada em mais de um sentido. Niebuhr, ao criticar os progressistas do século XVIII, observa que estes negligenciaram o fato de que “nenhum exemplo pode ser apresentado de um povo realmente selvagem que tenha se civilizado de maneira independente.”[14]
Whately apropriou-se dessa observação, que constitui, de fato, o cerne de sua conhecida Lecture on the Origin of Civilisation: “Os fatos são teimosos”, diz ele, “e o fato de que não se pode apresentar nenhum exemplo autenticado de selvagens que tenham emergido, sem ajuda, desse estado, não é uma teoria, mas uma afirmação, até hoje jamais refutada, de um fato.” Ele usa isso como argumento para sustentar sua conclusão geral: de que o ser humano não poderia ter passado de forma independente do estado selvagem ao civilizado, e de que os selvagens são descendentes degenerados de homens civilizados.[15]
Mas ele deixa de fazer a pergunta inversa: será que encontramos um único caso registrado de um povo civilizado que tenha caído de forma independente no estado selvagem?
Qualquer registro desse tipo, direto e bem comprovado, teria grande interesse para os etnólogos, embora, é claro, não contradissesse a teoria do desenvolvimento, pois provar perda não é o mesmo que refutar progresso anterior. Mas onde está tal registro?
A escassez de evidência histórica sobre a transição entre a selvageria e a cultura superior é um fato com dois lados, e o argumento unilateral do arcebispo Whately só leva em conta um deles.
Felizmente, essa deficiência está longe de ser fatal. Embora a história talvez não consiga explicar diretamente a existência nem esclarecer a posição dos povos selvagens, ela ao menos oferece indícios que tocam de perto essa questão.
Além disso, temos diversos meios de estudar os estágios inferiores da cultura com base em evidências que não podem ter sido manipuladas para sustentar uma teoria. O antigo saber tradicional, embora pouco confiável como registro direto de eventos, contém descrições incidentais bastante fiéis de costumes e modos de vida; a arqueologia revela antigas estruturas e vestígios soterrados de tempos remotos; a filologia evidencia a história não intencional presente na linguagem, transmitida de geração em geração sem consciência de seu significado; o levantamento etnológico das raças do mundo revela muito; a comparação etnográfica de suas condições revela ainda mais.
A estagnação e o declínio da civilização devem ser reconhecidos como algumas das operações mais frequentes e poderosas da vida nacional. Que o saber, as artes e as instituições decaiam em certas regiões, que povos outrora progressistas fiquem para trás e sejam ultrapassados por vizinhos em avanço, que às vezes até mesmo sociedades inteiras regridam à rudeza e à miséria – todos esses são fenômenos com os quais a história moderna está familiarizada.
Ao julgar a relação entre os estágios inferiores e superiores da civilização, é essencial ter alguma ideia de até que ponto tal relação pode ter sido afetada por essa degeneração. Que tipo de evidência a observação direta e a história podem oferecer sobre a degradação de homens de uma condição civilizada rumo à selvageria?
Em nossas grandes cidades, as chamadas “classes perigosas” estão mergulhadas em uma miséria e depravação horrendas. Se tivermos de comparar os papuas da Nova Caledônia com as comunidades de mendigos e ladrões europeus, talvez sejamos forçados a reconhecer com tristeza que temos, entre nós, algo pior que a selvageria. Mas não se trata de selvageria: é civilização arruinada. Negativamente, os internos de um albergue de Whitechapel e os habitantes de um kraal hotentote se assemelham pela ausência de conhecimento e virtude próprios da cultura superior. Mas positivamente, seus traços mentais e morais são totalmente distintos.
Assim, a vida selvagem é essencialmente dedicada à obtenção de subsistência a partir da natureza – justamente o que a vida proletária não é. Suas relações com a vida civilizada – uma de independência, a outra de dependência – são absolutamente opostas. A meu ver, as expressões populares como “selvagens urbanos” e “árabes das ruas” são comparações tão equivocadas quanto comparar uma casa em ruínas com o pátio de um pedreiro.
É mais pertinente observar como guerras e desgoverno, fome e peste devastaram repetidas vezes países inteiros, reduziram suas populações a remanescentes miseráveis e rebaixaram seu nível de civilização, e como a vida isolada de regiões rurais remotas parece, às vezes, tender à selvageria. No entanto, tanto quanto sabemos, nenhuma dessas causas jamais reproduziu de fato uma comunidade verdadeiramente selvagem.
Como exemplo antigo de degeneração sob circunstâncias adversas, a menção feita por Ovídio à infeliz colônia de Tomos, no mar Negro, é um caso digno de nota – embora talvez não deva ser interpretado literalmente. Entre sua população mista de gregos e bárbaros, assolada e levada à escravidão pelos cavaleiros sármatas, assim como os persas o foram até há pouco pelos turcomanos, o poeta descreve o abandono da arte da jardinagem, a decadência das artes têxteis, e as roupas bárbaras feitas de peles:
Nec tamen hEc loca sunt ullo pretiosa metallo:
Hostis ab agricola vix sinit illa fodi.
Purpura sEpe tuos fulgens prEtexit amictus:
Sed non Sarmatico tingitur illa mari.
Vellera dura ferunt pecudes, et Palladis uti
Arte TomitanE non didicere nurus.
Femina pro lana Cerialia munera frangit,
Suppositoque gravem vertice portat aquam.
Non hic pampineis amicitur vitibus ulmus:
Nulla premunt ramos pondere poma suo.
Tristia deformes pariunt absinthia campi,
Terraque de fructu quam sit amara docet.[16]
Casos de civilização excepcionalmente baixa na Europa talvez possam ser, às vezes, explicados por degeneração desse tipo. Mas, mais frequentemente, parecem ser relíquias de uma antiga barbárie que permaneceu inalterada. As evidências vindas de regiões selvagens da Irlanda, dois ou três séculos atrás, são interessantes desse ponto de vista. Leis foram aprovadas contra os hábitos arraigados de prender os arados aos rabos dos cavalos e de queimar aveia com a palha para evitar o trabalho de debulhar.
No século XVIII, a Irlanda ainda podia ser descrita em tom satírico da seguinte forma:
A ilha ocidental, famosa por seus pântanos,
Por seus ladrões e por seus grandes cães de caça,
Por puxar charretes pelos rabos,
E debulhar milho com flagelos em chamas.[17]
A descrição de Fynes Moryson sobre os irlandeses selvagens ou “puros” (meere) por volta de 1600 é impressionante. Segundo ele, até mesmo os senhores entre eles viviam em pobres casas de barro ou cabanas de galhos cobertas com turfa. Em muitas regiões, tanto homens quanto mulheres, mesmo no rigor do inverno, usavam apenas um trapo de linho em torno dos quadris e um manto de lã sobre o corpo, de modo que “chegava a embrulhar o estômago” ver uma velha pela manhã antes do desjejum. Ele menciona também o costume de queimar a aveia ainda na palha e fazer bolos com ela. Não usavam mesas, mas colocavam a comida sobre um feixe de capim. Festinavam com cavalos mortos e ferviam pedaços de boi e porco junto com as entranhas não lavadas dos animais, tudo isso dentro de uma árvore oca, envolto numa pele de vaca crua e assim posto sobre o fogo; bebiam leite aquecido com uma pedra previamente lançada no fogo.[18]
Outra região notável pela simplicidade bárbara da vida são as Hébridas. Até poucos anos atrás, ainda se encontravam em uso cotidiano, nessas ilhas, vasos de barro não esmaltados e moldados à mão sem o uso de roda de oleiro – peças que poderiam figurar em museus como exemplares toscos de manufatura selvagem. Esses “craggans” ainda são feitos por uma velha em Barvas, que os vende como curiosidades. Esse estado moderno da arte da cerâmica nas Hébridas combina bem com a afirmação de George Buchanan, no século XVI, de que os ilhéus costumavam ferver a carne no próprio estômago ou na pele do animal.[19]
No início do século XVIII, Martin menciona como ainda predominante por lá o antigo modo de preparar o cereal queimando-o com habilidade diretamente da espiga – processo muito rápido, por isso chamado “graddan” (gaélico grad = rápido).[20] Assim, vemos que o costume de queimar o grão, pelo qual os “puros irlandeses” eram criticados, era na verdade a preservação de uma antiga técnica celta, que não deixava de ter sua utilidade prática. Do mesmo modo, o surgimento em regiões célticas modernas de outras artes difundidas entre culturas inferiores – como a fervura com peles, semelhante à dos citas em Heródoto, e a fervura com pedras, como a dos assiniboins da América do Norte – parece ajustar-se melhor à ideia de uma sobrevivência de civilização inferior do que à de uma degeneração a partir de uma civilização superior. Irlandeses e habitantes das Hébridas estiveram durante séculos sob a influência de civilizações relativamente elevadas, mas isso não impediu que muitos de seus antigos e rudes costumes permanecessem inalterados.
Casos de homens civilizados que adotam uma vida selvagem em regiões remotas do mundo, deixando de buscar ou desejar os instrumentos da civilização, oferecem indícios mais claros de degeneração. É nesse contexto que ocorre a mais próxima aproximação conhecida de uma degeneração independente de um estado civilizado para um estado selvagem. Isso se dá em raças mistas, cujo padrão de civilização pode ser mais ou menos inferior ao da raça superior.
Os amotinados do Bounty, com suas esposas polinésias, fundaram uma pequena comunidade em Pitcairn que, embora não fosse selvagem, tampouco era plenamente civilizada.[21] As raças mistas de portugueses e nativos nas Índias Orientais e na África levam uma vida inferior ao padrão europeu, mas não uma vida selvagem.[22] Os gaúchos das pampas sul-americanas, uma raça mista de europeus e indígenas, são descritos como sentados sobre caveiras de boi, preparando caldo em chifres com brasas ao redor, vivendo apenas de carne, sem vegetais, e levando uma vida suja, brutal, desconfortável e degenerada – mas não selvagem.[23] Um passo além disso nos leva aos casos de indivíduos civilizados que são absorvidos por tribos selvagens e adotam integralmente o modo de vida selvagem, sem exercer influência significativa de melhoria; os filhos desses homens podem ser considerados, de modo nítido, como selvagens.
Esses casos de mestiçagem, no entanto, não demonstram que uma cultura inferior tenha sido realmente produzida como resultado de degeneração a partir de uma superior. A teoria que se aplica aqui é a de que, dadas duas civilizações – uma superior e uma inferior – coexistindo entre dois povos, uma raça mista entre eles pode adotar tanto a condição inferior quanto uma condição intermediária.
A degeneração provavelmente atua de forma ainda mais ativa nas culturas inferiores do que nas superiores. Nações bárbaras e hordas selvagens, com seu conhecimento limitado e escassez de instrumentos, parecem especialmente expostas a influências degradantes. Na África, por exemplo, parece ter havido, nos séculos modernos, um declínio cultural, provavelmente devido, em grande medida, à influência estrangeira. J. L. Wilson, ao contrastar os relatos dos séculos XVI e XVII sobre poderosos reinos negros na África Ocidental com as atuais pequenas comunidades, sem ou com pouca tradição da mais ampla organização política de seus antepassados, atribui especialmente ao tráfico de escravos essa causa de deterioração.[24]
No sudeste da África, também, uma cultura bárbara relativamente elevada – que associamos particularmente às antigas descrições do reino de Monomotapa – parece ter se desfeito, sem contar as notáveis ruínas de edifícios de pedra lavrada ajustadas sem argamassa, que indicam a intrusão de estrangeiros mais civilizados na região do ouro![25]
Na América do Norte, o padre Charlevoix observa, no século passado, que os iroqueses, em tempos antigos, costumavam construir suas cabanas melhor do que outras nações – e melhor do que constroem agora; esculpiam nelas figuras rústicas em relevo; mas, como em várias expedições quase todas as suas aldeias foram incendiadas, não se preocuparam em restaurá-las ao estado anterior.[26]
A degradação dos índios cheyenne é fato histórico. Perseguidos por seus inimigos, os sioux, e finalmente desalojados até mesmo de sua aldeia fortificada, o coração da tribo se partiu. Seus números diminuíram, não ousavam mais se estabelecer em um local permanente, abandonaram o cultivo da terra e tornaram-se uma tribo de caçadores errantes, tendo os cavalos como única posse valiosa – que a cada ano trocavam por milho, feijão, abóboras e mercadorias europeias, para então retornarem às profundezas das pradarias.[27]
Quando, nas Montanhas Rochosas, Lord Milton e o Dr. Cheadle encontraram um fragmento isolado da raça shushwap, sem cavalos nem cães, abrigando-se sob rudes inclinações temporárias feitas de casca ou esteira, caindo ano após ano em miséria ainda maior e rapidamente desaparecendo, encontraram mais um exemplo da degeneração que, sem dúvida, já rebaixou ou exterminou muitos povos selvagens.[28]
Existem tribos que são verdadeiros párias da vida selvagem. Há razão para se considerar os miseráveis índios digger da América do Norte e os bushmen do sul da África como os remanescentes perseguidos de tribos que conheceram dias melhores.[29] As tradições dos povos inferiores acerca de uma vida melhor de seus antepassados podem, às vezes, ser lembranças reais de um passado não muito distante. Os índios algonquinos olham para os tempos antigos como uma idade de ouro, quando a vida era melhor do que agora, quando havia melhores leis e líderes, e os costumes eram menos rudes.[30] E, de fato, sabendo o que sabemos de sua história, podemos admitir que têm razões para lembrar, na miséria, a felicidade passada. Também com razão o rude kamchadal poderia declarar que o mundo está piorando cada vez mais, que os homens são cada vez menos e mais vis, e que a comida está mais escassa, pois o caçador, o urso e o veado estão fugindo daqui rumo à vida mais feliz nas regiões inferiores.[31]
Seria uma valiosa contribuição para o estudo da civilização investigar a ação do declínio e da queda com base num conjunto de evidências mais amplo e preciso do que até hoje se tentou. Os casos aqui apresentados são provavelmente apenas parte de uma longa série que poderia ser reunida para provar que a degeneração cultural tem sido – embora não a causa primária da existência da barbárie e da selvageria no mundo – uma ação secundária que afetou ampla e profundamente o desenvolvimento geral da civilização. Pode-se até dizer que a degeneração da cultura, tanto em seu modo de operar quanto em sua imensa extensão, se compara legitimamente ao processo de denudação na história geológica da Terra.
Ao se julgar as relações entre a vida selvagem e a civilizada, algo pode ser aprendido ao se observar as divisões da raça humana. Para esse fim, a classificação por famílias de línguas pode ser usada de maneira conveniente, se for confrontada com as evidências das características corporais. Sem dúvida, a linguagem por si só é um guia insuficiente para traçar a descendência nacional – como mostram os casos extremos dos judeus na Inglaterra ou de raças três-quartos negras nas Índias Ocidentais, que, apesar disso, falam o inglês como língua materna. Ainda assim, em circunstâncias normais, a conexão linguística indica, em maior ou menor grau, uma conexão racial ancestral.
Como guia para traçar a história da civilização, a linguagem fornece evidência ainda melhor, pois uma língua comum, em grande medida, implica uma cultura comum. A raça dominante o bastante para manter ou impor sua língua geralmente mantém ou impõe, em maior ou menor grau, sua civilização também. Assim, a origem comum das línguas dos hindus, gregos e teutônicos se deve, sem dúvida, em grande parte à ancestralidade comum, mas está ainda mais intimamente ligada a uma história social e intelectual comum, ao que o professor Max Müller chama com propriedade de “relação espiritual”. A admirável permanência da linguagem frequentemente nos permite detectar, entre tribos remotas no tempo e no espaço, os traços de uma civilização conectada. Com base nisso, como se apresentam as relações entre tribos selvagens e civilizadas dentro dos vários grupos da humanidade historicamente ligados pela posse de línguas aparentadas?
A família semítica, que representa uma das civilizações mais antigas conhecidas do mundo, inclui árabes, judeus, fenícios, sírios etc., e teve uma conexão anterior e também posterior no norte da África. Essa família abrange algumas tribos rudes, mas nenhuma que pudesse ser classificada como selvagem.
A família ariana existiu na Ásia e na Europa certamente por muitos milhares de anos, e há traços bem conhecidos e bem definidos de sua antiga condição bárbara, a qual talvez tenha sobrevivido com menos mudanças entre tribos isoladas nos vales do Hindu Kush e do Himalaia. Não parece haver, por outro lado, nenhum caso conhecido de uma tribo ariana plena que tenha se tornado selvagem. Os ciganos e outros grupos marginalizados são, sem dúvida, em parte arianos por sangue, mas sua condição degradada não é selvageria. Na Índia, há tribos arianas por língua, mas cujo tipo físico é mais indígena, e cuja ancestralidade é majoritariamente oriunda de grupos locais, com maior ou menor mistura com os hindus dominantes. Algumas tribos que se enquadram nessa categoria, como entre os bhils e kulis da presidência de Bombaim, falam dialetos que são hindis ao menos no vocabulário, mesmo que não na estrutura gramatical, e ainda assim o povo em si tem cultura inferior à de algumas nações hinduizadas que conservaram sua fala dravídica original – como os tâmeis, por exemplo. Mas todos esses parecem situar-se em estágios mais elevados de civilização do que quaisquer tribos florestais da península que possam ser consideradas quase selvagens; todos esses grupos são não arianos tanto por sangue quanto por língua.[32]
[1] Referência a uma fala da comédia “O Burguês Fidalgo” (Le Bourgeois Gentilhomme, 1670), de Molière. Nela, o personagem Monsieur Jourdain descobre, surpreso, que fala em prosa sem jamais ter sabido: “Par ma foi! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien” (“Por minha fé! Há mais de quarenta anos que falo em prosa sem saber!”). A frase tornou-se proverbial (N.T.).
[2] Blackstone, Commentaries on the Laws of England, livro II., capítulo 3. O exemplo acima substitui o dado em edições anteriores. Outro exemplo pode ser encontrado em sua explicação sobre a origem do deodand, livro I, cap. 8, como destinado, nos tempos obscuros do papado, a ser uma expiação pelas almas daqueles que foram arrebatados pela morte súbita.
[3] G. W. Earl, Papuans, p. 79; A. R. Wallace, Eastern Archipelago.
[4] Rochefort, Iles Antilles, pp. 400-480.
[5] Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, capítulo xxxviii.
[6] De Maistre, Soirées de St. Pétersbourg, vol. ii. p. 150.
[7] De Brosses, Dieux Fétiches, p. 15; Formation des Langues, vol. i. p. 49; vol. ii. p. 32.
[8] Goguet, Origine des Lois, des Arts, etc., vol. i. p. 88.
[9] Whately, Essay on the Origin of Civilisation, em Miscellaneous Lectures, etc. Examinei suas evidências em detalhes em meu Early History of Mankind, capítulo vii. Ver também W. Cooke Taylor, Natural History of Society.
[10] Goguet, vol. iii. p. 270.
[11] Lecret. v. 923, etc.; ver Hor. Sat. i. 3.
[12] Avesta, trans. Spiegel & Bleeck, vol. ii. p. 50.
[13] Hardy, Manual of Budhism, pp. 64, 128.
[14] Niebuhr, Römische Geschichte, part i. p. 88: Nur das haben sie übersehen, dasz kein einziges Beyspiel von einem wirklich wilden Volk aufzuweisen ist, welches frey zur Cultur übergegangen wäre.
[15] Whately, Essay on Origin of Civilisation.
[16] Ovídio. Ex Ponto, iii. 8; ver Grote, History of Greece, vol. xii. p. 641.
[17] W. C. Taylor, Nat. Hist. of Society, vol. i. p. 202.
[18] Fynes Moryson, Itinerary; Londres, 1617, part iii. p. 162, etc.; J. Evans em ArchEologia, vol. xli. Ver description of hide-boiling, etc., among the wild Irish, about 1550, em Andrew Boorde, Introduction of Knowledge, edição de F. J. Furnivall, Early English Text Soc. 1870.
[19] Buchanan, Rerum Scoticarum Historia; Edinburgh, 1528, p. 7. Ver Early History of Mankind, 2. ed. p. 272.
[20] Martin, Description of Western Islands, em Pinkerton, vol. iii. p. 639.
[21] Barrow, Mutiny of the Bounty’; W. Brodie, Pitcairn: Island.
[22] Wallace, Malay Archipelago, vol. i. pp. 42, 471; vol. ii. pp. 11, 43, 48; Latham, Descr. Eth., vol. ii. pp. 492-5; D. e C. Livingstone, Exp. to Zambesi, p. 45.
[23] Southey, History of Brazil, vol. iii. p. 422.
[24] J. L. Wilson, W. Afr., p. 189.
[25] Waitz, Anthropologie, vol. ii. p. 359, ver 91; Du Chaillu, Ashangoland, p. 116; T. H. Bent, Ruined Cities of Mashonaland.
[26] Charlevoix, Nouvelle France, vol. vi. p. 51.
[27] Irving, Astoria, vol. ii. capítulo v.
[28] Milton e Cheadle, North West Passage by Land, p. 241; Waitz, vol. iii. pp. 74-6.
[29] Early History of Mankind, p. 187.
[30] Schoolcraft, Algic Res., vol. i. p. 50.
[31] Steller, Kamtschatka, p. 272.
[32] Ver G. Campbell, Ethnology of India, em Journ. As. Soc. Bengal, 1866 parte ii.